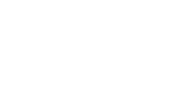Novas ameaças de conflito por causa da guerra da Ucrânia, golpes de Estado na África, críticas do Brasil à guerra em Gaza, fortalecimento de alianças militares e perda da hegemonia dos Estados Unidos marcam o atual contexto geopolítico do mundo. Com a escalada de conflitos, é importante entender o que está acontecendo no presente para que possamos pensar no futuro. Pensando nisso, o professor Carlos Eduardo Martins, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa (Irid/UFRJ), é um dos organizadores do livro ¿Hacia la Tercera Guerra Mundial? [“Na direção da Terceira Guerra Mundial?”, em tradução livre’], que analisa para onde caminha a humanidade e discute se um combate em escala global será irreversível.
A obra reúne o pensamento de diversos cientistas políticos da América Latina e aborda, entre outros assuntos, as mudanças geopolíticas no século XXI, a importância atual da guerra da Ucrânia, as disputas entre Estados Unidos e China, o reavivamento da Guerra Fria e as movimentações políticas no Sahel. O livro está disponível em espanhol, mas há enorme interesse dos autores em publicá-lo em português. Os interessados em adquirir um exemplar podem acessar o site da editora El Viejo Topo.
Para explicar as mudanças geopolíticas tratadas na publicação, o Conexão UFRJ conversou com o professor Carlos Eduardo Martins. Confira a seguir a entrevista na íntegra:
Conexão UFRJ: Que mudanças na geopolítica, na economia e até na cultura ocorreram nas duas primeiras décadas do século XXI que indicam estarmos prestes a ingressar em um conflito com vários atores de peso, ou seja, uma Terceira Guerra Mundial?
Martins: A principal evidência é a incapacidade de a grande burguesia estadunidense aceitar a entrada da hegemonia dos Estados Unidos em sua fase terminal a partir da crise de 2008. Trata-se de um longo declínio hegemônico que se iniciou nos anos 1970 e foi parcialmente neutralizado pelas estratégias de financeirização e deslocalização produtiva da grande burguesia estadunidense. Essas estratégias foram praticadas a partir dos anos 1980 e 1990 e deslocaram a dinâmica da acumulação de capital para o rentismo, a especulação e a geração de capital fictício, estabelecendo ainda a força de trabalho de países com baixa renda per capita como âncora salarial para os trabalhadores estadunidenses. O resultado foi o aumento dos lucros extraordinários, mas também o declínio acelerado da liderança tecnológica e do poder do Estado norte-americano no médio e longo prazos. Nesse sentido, a década de 2010 consolidou, por um lado, a condição dos Estados Unidos como epicentro de crises mundiais, promotor da austeridade global, gerador de altos níveis de desigualdade, refratário a acordos climáticos, portador de imensa dívida pública, de gigantesco déficit comercial e debaixas taxas de investimento e crescimento econômico.
Por outro lado, a China destacou-se pela ampla capacidade de investimento, por planejar o seu ingresso na vanguarda da fronteira tecnológica até 2049, pela liderança em energias limpas e tecnologias verdes, por promover o desenvolvimento como um processo global e cooperativo, por defender uma política internacional multilateralista que se expressa na organização do Sul Global através de instrumentos como o Brics, a Organização para Cooperação de Xangai, a Nova Rota da Seda, e pelas lutas que o país impulsionou por reformas nos organismos multilaterais em que os Estados Unidos têm poder de veto.
Ao final de 2010, a China superou os Estados Unidos em registros de patentes internacionais e em número de empresas nas 500+ da Forbes e, somada à Rússia, saltou sua parcela de gastos militares de 18% para 45% dos efetivados pelos Estados Unidos. A Rússia se converteu no corredor logístico para o fornecimento de suprimentos estratégicos – como petróleo, alimentos e armas –, circulação de mercadorias e articulação geoeconômica e geopolítica entre China e Europa, colocando em cena um dos grandes temores dos teóricos geopolíticos anglo-saxões: a criação do Rimland, isto é, de um poder global baseado em estados anfíbios – com forte vocação territorial, demográfica e marítima – exposto às grandes pressões sociais das massas das quais as ilhas costeiras ou peninsulares se protegem.
Trata-se, portanto, da resistência estadunidense e anglo-saxã não apenas à emergência de novos poderes hegemônicos, mas a novos tipos de poderes geopolíticos. Desde os anos 2010, os Estados Unidos vêm transitando de um imperialismo liberal para um imperialismo político, mediante o qual buscam submeter ao poder coercitivo de seu Estado as pressões da competitiva economia mundial. Dessa forma, deixam de circunscrever as sanções para Estados dissidentes da periferia e semiperiferia e passam a aplicá-las para as grandes potências como China e Rússia. Isso se iniciou no governo Obama, ganhou nova escala com Trump e prosseguiu com Biden. Mas não foi suficiente. A guerra contra a Rússia atende aos objetivos dos Estados Unidos de bloquear a construção geoeconômica da Eurásia, o que não foi possível apenas com sanções aplicadas contra o país de maioria eslava e os seus parceiros europeus.
Para provocar a guerra, foi necessário aumentar as pressões sobre a fronteira russa com o golpe de Estado na Ucrânia, a violação ao protocolo de Minsk e a renovação do projeto de expansão da Otan para o Leste. No entanto, dois anos de guerra revelam o enorme fracasso da aposta estadunidense que buscou combinar guerras convencionais e híbridas contra a Rússia: cercá-la, desgastá-la militarmente, asfixiá-la economicamente, desestabilizá-la politicamente e fragmentá-la. A Rússia então reorientou suas relações comerciais e financeiras para a Ásia, com destaque para a China, Índia e Irã, o que lhe possibilitou estabilizar o rublo e rearmar-se para manter o esforço de guerra e reforçar sua unidade política.
A transição dos Estados Unidos de um imperialismo liberal para um imperialismo político não lhes permite tampouco restabelecer a ordem mundial. O bloco que dirigem não consegue impor uma ordem estável pela força. A dimensão crônica do conflito na Ucrânia indica isso. Os custos da guerra aparecem nas restrições financeiras da dívida pública de um país cuja centralidade internacional da moeda está sendo posta em questão e na escassez da força de trabalho disponível para o esforço militar de guerras por procuração. Na guerra na Faixa de Gaza se passa o mesmo. O resultado tem sido o forte decrescimento da economia de Israel e o aumento da vulnerabilidade do país sionista no Oriente Médio, que convocou 360 mil reservistas. O isolamento internacional do país de maioria judaica e a resistência regional e mundial à política do grande Israel crescem mais do que proporcionalmente aos avanços territoriais de Netanyahu.
Tudo indica que estamos vivendo uma situação de empate catastrófico, onde a hegemonia dos Estados Unidos entrou em sua fase terminal e avança para a etapa de decomposição. No entanto, ela não possui força para impedir o surgimento e o desenvolvimento de tendências multipolares, mas sim para limitá-las, atrasá-las, destruí-las parcialmente e impossibilitar que sejam capazes de forjar uma nova ordem internacional dominante.
Essa é a principal razão que coloca a humanidade em risco de uma nova guerra mundial, que alguns analistas apontam já existir nos processos em curso na Ucrânia ou em Gaza, utilizando o conceito de guerras mundiais fragmentadas para mencionar a crescente articulação mundial em torno a conflitos regionais que dividem o planeta cada vez mais em dois blocos: o liderado pelo imperialismo estadunidense e a Otan e o dirigido pela China e pela Rússia, que se projeta para o Sul Global, centrando sua unidade, apesar da imensa diversidade cultural e de regimes políticos que porta, na resistência ao imperialismo norte-americano e ocidental.
Períodos de colapso hegemônico têm levado historicamente a 20 ou 30 anos de disputas intensas sobre a redefinição do sistema mundial capitalista. Essas disputas se manifestaram em guerras em reformas sociais e políticas que, por sua vez, modificam profundamente os padrões de reprodução material e de acumulação. As guerras de 1914 e 1945 foram as primeiras das guerras hegemônicas a serem chamadas de mundiais por envolverem a participação política e militar de todos os continentes do planeta. A possibilidade de se evitar um roteiro semelhante dependerá da capacidade de se fortalecer a política, a socialização e o interesse público acima do poder privado. Isso significa trazer para a guerra um exponencial custo político e social que é impagável. O Vietnã foi um primeiro sinal de que isso é possível. Mas fazê-lo de forma consistente e duradoura implica a própria refundação do sistema mundial em que vivemos e isso não se fará sem que as questões globais se conectem às lutas de classe no interior dos Estados.
Conexão UFRJ: O que a guerra da Ucrânia revela sobre a ordem mundial geopolítica?
Martins: Revela um novo patamar de conflito, o primeiro entre potências nucleares. Embora, até aqui, os Estados Unidos e a União Europeia não tenham enviado tropas para o front, apenas armamentos, treinamento militar, apoio financeiro, logístico e político. Não se trata de uma nova Guerra Fria, mas de uma investida que rompe completamente com os padrões que a marcaram. A Guerra Fria foi dirigida desde os Estados Unidos pela teoria do equilíbrio de poderes e a doutrina da contenção. George Kennan, principal nome da doutrina da contenção, considerava qualquer intervenção dos Estados Unidos sobre a União Soviética, com o objetivo de liberar as etnias oprimidas do nacionalismo russo, inaceitável para os interesses estadunidenses, qualificando-a como a semente de um desastre muito pior que o do Vietnã.
A teoria da contenção funcionou relativamente bem quando a balança de poder mundial se inclinava para os Estados Unidos, cuja liderança produtiva, financeira e militar era indiscutível, e se tratava de fazer intervenções pontuais em zonas estratégicas para garantir o domínio e expansão do imperialismo norte-americano. Mesmo assim as contradições eram grandes nos países coloniais, dependentes ou nas semiperiferias, e os Estados Unidos registraram derrotas importantes, como em Vietnã e Cuba, ou tiveram que se apoiar em regimes protofascistas para garantir seus interesses, como as ditaduras militares da América do Sul, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha e a ditadura dos coronéis na Grécia, na Europa Mediterrânea, tendo muitas dificuldades em organizar a transição para democracias liberais.
No século XXI, o que se observa é um deslocamento da balança de poder para a Eurásia, em particular seus países anfíbios, com destaque para China e Rússia. As intervenções limitadas, reguladas pela contenção, têm pouca probabilidade de sucesso para lidar com esses casos, o que torna toda tentativa de intervir, por parte dos Estados Unidos, pressionada a ultrapassar seus limites. Isso tem colocado a política externa norte-americana em cheque. No pós-Guerra Fria, predominou a visão que se apoiou na suposta superioridade da economia liberal dos Estados Unidos para produzir mudanças de regime no mundo inteiro, transformando-o num sistema liberal planetário. As mudanças seriam estimuladas pelo ambiente internacional e introduzidas por forças internas dos países em questão, salvo quando autocracias lhe bloqueassem a atuação, possibilitando diversos níveis de interferência dos Estados Unidos, que iam desde sanções, financiamento da insurgência interna ou de grupos de mercenários, até a intervenção militar convencional, em geral destinada a países periféricos ou semiperiféricos com aspirações subimperialistas.
Frente a esse impasse, a política externa norte-americana se vê diante das seguintes alternativas: a) promover a economia política de sanções e, no limite, formas de intervenção militar para subjugar adversários, onde a balança de poder se inclina; e b) escolher um adversário principal em vez de lutar em várias frentes. Essa formulação aponta para um giro de 180 graus na política externa para a Rússia, incluindo-a em uma aliança transatlântica contra a China.
Os riscos de perder o controle sobre uma União Europeia fortalecida pela associação militar e energética com a Rússia têm levado os Estados Unidos a se concentrarem consistentemente na primeira opção, mas com resultados insatisfatórios. Sobre essa via atuam duas forças: o fiscalismo ortodoxo, que busca limitar os gastos militares e reduzir a exposição internacional dos Estados Unidos; e a que atua no sentido oposto, pretendendo elevar os gastos militares estadunidenses aos patamares de 6 a 9% do PIB, como nos anos 1950 e 1960. Biden se move por elevações discretas no orçamento militar, e Nikki Haley defende a visão dos falcões. Trump é uma incógnita. Em sua presidência, elevou o orçamento militar e incrementou fortemente o número de sanções contra a Rússia, mas priorizou a China como adversária e tensionou a unidade da Otan, colocando-a em evidência, a pretexto de um maior engajamento financeiro dos aliados europeus.
Conexão UFRJ: O que está acontecendo na geopolítica africana?
Martins: Há uma crescente influência do novo eixo geopolítico emergente sobre a África, o que está relacionado aos projetos de desenvolvimento que ele promove e pretende favorecer, em comparação às políticas de austeridade defendidas pelos Estados Unidos. Egito e Etiópia passaram a fazer parte dos Brics, unindo-se à África do Sul, no continente africano, e à Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, potências do Oriente Médio que se integraram a essa organização. Na região do Sahel, um conjunto de golpes militares de Estado se aproximou da esfera de influência da Rússia e do multilateralismo emergente, notadamente em Mali, no Níger e em Burkina Faso, denunciando o imperialismo francês e o estadunidense e seus efeitos deletérios para a segurança dos estados nacionais, uma vez que são promotores de políticas de mudanças de regime que fortaleceram grupos terroristas na região, sendo a Líbia o caso mais destacado. O rechaço ao imperialismo sionista apoiado pelos Estados Unidos e à sua política extremamente agressiva na Palestina reforça a distância de lideranças africanas do eixo geopolítico dirigido pelo imperialismo ocidental. Isso tem ganhado relevância com as críticas contundentes que China, Brasil e África do Sul têm feito às políticas de Netanyahu. Outro registro de distanciamento das lideranças africanas do imperialismo ocidental está na divisão da África em relação à condenação da ocupação russa na região de Donbass, e na crítica da União Africana às sanções contra a economia da Rússia, em particular as que atingem as exportações de alimentos de que a África depende.
Conexão UFRJ: Irã, Rússia e China farão exercícios militares em março. A Otan fez recentemente o maior exercício militar desde a Guerra Fria. Por que isso está acontecendo? São apenas encenações? O que pode acontecer?
Martins: Os exercícios militares entre China, Rússia e Irã são parte da percepção da necessidade de esses países se articularem para garantir a defesa de seus interesses nacionais e regionais, uma vez que o novo conceito de estratégia da Otan implica o envolvimento crescente dessa organização na Ásia para impedir a construção de um polo regional de desenvolvimento que possa fazer frente aos interesses dos Estados Unidos. Trata-se, segundo a doutrina realista estadunidense, de impedir o estabelecimento de um poder hegemônico regional. Por isso, a interferência crescente dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho e o estabelecimento de bases militares e protetorados no Pacífico e no Índico, além da criação da AUKUS [acrônimo em inglês que representa a aliança formada entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos]. Os três países [Irã, Rússia e China] fazem parte da Organização para a Cooperação de Xangai, que tem por objetivo garantir a segurança e a defesa de seus integrantes. A importância dessa organização e sua articulação com outras instâncias tendem a crescer à medida que as polarizações e os confrontos na economia mundial se agudizarem.
Conexão UFRJ: Os Estados Unidos interferem em conflitos históricos como a independência de Taiwan – que não quer fazer parte da China – e o conflito árabe-israelense em Gaza. Além disso, o país ataca o Irã, que apoia o Hamas. Tudo isso pode ser o estopim para uma guerra mundial?
Martins: São gatilhos que vão se acumulando e fazem parte de projetos de poder mundiais ou regionais em choque. Os Estados Unidos tendem a aumentar sua intervenção no mundo na razão direta dos riscos a seu projeto de poder global. O avanço das tendências multipolares e o fortalecimento de potências continentais como China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil acentua as ameaças ao poder norte-americano.
Os golpes de Estado na Ucrânia, no Brasil e na América do Sul e o cerco e o isolamento da Venezuela, que se estabeleceram nos anos 2010, devem ser vistos como parte da estratégia do imperialismo estadunidense, ainda que não se expliquem exclusivamente por ele. Trata-se de impedir a formação de poderes regionais que se autonomizem da subordinação aos Estados Unidos.
O Brasil, que tem uma imensa capacidade de alavancamento da América do Sul, sofre imensa supervisão do imperialismo que se internaliza pelas estruturas da dependência. Não é casual que tenhamos montado na Escola Superior de Guerra uma réplica do War College e que sejamos ainda um dos poucos países da América do Sul sem justiça de transição [momento de mudança de regime político como da Ditadura para a Democracia, em que se reconhece, por exemplo, a necessidade de reparar vítimas, buscar a verdade e punir agressores]. Enquanto isso, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai puderam avançar na punição e na criminalização do terrorismo de Estado. Preserva-se uma ala fascista para destruir projetos nacionais-populares quando o liberalismo conservador não consegue fazê-lo.
Uma das estratégias do imperialismo para impedir o surgimento de novas potências globais é a de evitar que países da América Latina se estruturem como potências regionais. Por isso a imensa gama de conflitos regionais e subnacionais que o imperialismo norte-americano fomenta, financia e protege. Entretanto, como é muito difícil conter a ascensão de novos poderes, a manutenção da estratégia de fomentar conflitos locais e regionais pode antecipar os grandes conflitos globais e acelerá-los.
Conexão UFRJ: Quais são os campos de batalha previstos para o desenrolar de um conflito em escala global? Eles são apenas econômico-financeiros, por meio de boicotes, por exemplo, ou haverá de verdade um embate entre tropas?
Martins: É difícil prever cenários, mas não há dúvida que estamos em período de decomposição do liberalismo global e que seu grande promotor são os Estados Unidos, justamente quem havia impulsionado a globalização neoliberal. Os Estados Unidos estão em transição para o imperialismo político, ou imperialismo tout-court, como denominou Giovanni Arrighi. A interferência na autodeterminação dos povos e soberania nacional, por meio de guerras híbridas ou convencionais, e no mercado mundial, através de uma economia política de sanções, tem crescido significativamente desde os anos 2010. A democracia liberal revela seus limites como forma de poder global ou nacional e a ascensão do fascismo ressurge no Ocidente, como alternativa para substituí-la, pela incapacidade da civilização capitalista de lidar com os conflitos e contradições que promove.
Na escala da violência, a economia política das sanções e das chantagens e as guerras híbridas precedem a intervenção militar convencional, e temos avançado bastante nesta direção, o que aumenta o risco de conflitos armados abertos que já vêm aparecendo e se fixando de forma crônica. Romper essa trajetória é um dos grandes desafios da humanidade nas próximas décadas e isso requer ultrapassar a democracia liberal em direção a democracias mais participativas e substantivas que permitam regular o poder econômico pela política democrática e criar espaços institucionais no mundo em que o peso demográfico e numérico dos países possa ser um ativo relevante na organização dos processos decisórios.