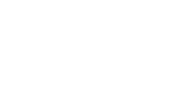“Partir desta para a melhor”, “vestir o paletó de madeira” e até “ir de comes e bebes”, expressão utilizada pela nova geração na internet, são alguns dos eufemismos para falar de um assunto sensível: a morte. Ainda que a finitude do ser humano seja a única certeza que se tem, o tema ainda é tabu. Falar sobre o fim é algo restrito. Então, como todos podem entender um pouco da morte?
O estudo do assunto pela história permite entender as práticas da sociedade, o que está por trás delas e suas transformações no que se refere à morte e aos atos póstumos, como o enterro e o luto. A maneira de lidar com esse tópico sensível nem sempre foi a mesma. As pessoas distanciaram-se física e emocionalmente da morte no século XX, segundo a historiadora Juliana Schmitt, autora de Três Lições da História da Morte, novo e-book gratuito da Editora UFRJ.
O livro, em linguagem simples, aproxima o leitor não especializado de uma conversa sobre a morte. E a formação acadêmica da autora, em Moda e Letras, ajuda no debate trazido pelo livro. Com leitura tranquila e texto reflexivo, a obra divide-se em três capítulos: “Prepara-se para morrer”, que resgata os manuais da Idade Média sobre ars moriendi (a arte de morrer, em latim), responsáveis por orientar uma “boa morte”; “O lugar dos mortos”, com as relações que se estabelecem entre vivos e mortos nos cemitérios e a transformação desses espaços: como deixam de ser da Igreja e passam a ser laicos, com sepulturas individuais, e se tornam jardins; e “Elaborar perda”, que discute o luto e a maneira vitoriana de lidar com ele, além de como eternizar memórias e como a pandemia modificou a percepção do enlutamento.
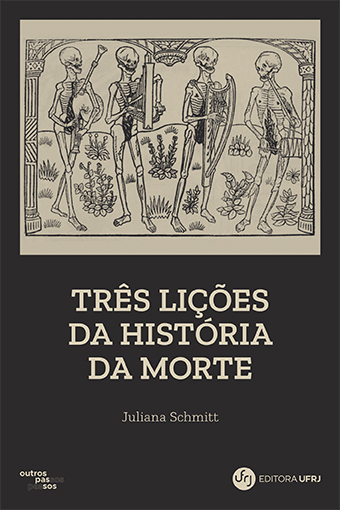
O Conexão UFRJ conversou com Juliana Schmitt, autora do livro. Confira a entrevista completa a seguir:
Conexão UFRJ: Por que a morte é um tabu desde o século XX?
Juliana Schmitt: Nós precisamos considerar o fenômeno da hospitalização dos processos de morte e o surgimento dos serviços funerários especializados, que retiraram do âmbito doméstico os últimos cuidados que as famílias costumavam dedicar aos seus moribundos e aos seus mortos. O aumento da expectativa de vida e os avanços da medicina também contribuíram para essa percepção de que a morte foi se tornando mais distante, assim como a supervalorização da juventude (que, no limite, é uma negação do envelhecimento e da morte). Mesmo o luto, atualmente, parece ser uma etapa cada vez mais encurtada.
Conexão UFRJ: Como falar da morte?
Juliana Schmitt: O interdito da morte é tão enraizado na nossa sociedade que me parece que o primeiro passo para isso seria, simplesmente, “falar da morte”. O tema por si só é fonte de angústia e ansiedade, e ir abrindo espaços para se falar sobre ele já é transformador. Mas, claro, também é importante se falar com cuidado, com afeto. Todos nós temos nossas inseguranças e dores, já perdemos alguém ou tememos perder. Abordar o tema de maneira respeitosa é fundamental.
Conexão UFRJ: O que a ars moriendi dizia ser uma boa morte? Existe alguma similaridade com os dias de hoje?
Juliana Schmitt: Uma boa morte, de acordo com essas obras, era garantida quando, ao reconhecer a proximidade do fim, o moribundo tinha tempo para avaliar sua trajetória de vida, arrepender-se, despedir-se e, porque aquele era um contexto de cristandade, receber os últimos sacramentos e rezar. A contemporaneidade inverteu essa percepção e, geralmente, as pessoas tendem a considerar uma boa morte aquela que ocorre subitamente (pois a pessoa não percebeu e não sofreu) ou inconscientemente (dormindo, por exemplo).
Conexão UFRJ: O que é uma dança macabra?
Juliana Schmitt: A dança macabra, ou dança da morte, é um gênero iconográfico e poético que surge na Baixa Idade Média. Ela é formada por personagens mortos e vivos que interagem no momento em que os vivos estão sendo levados a óbito pelos mortos. Seu objetivo é salientar a universalidade da morte, mas também sua imprevisibilidade.
Conexão UFRJ: Por que o cemitério é um espaço entre os vivos e os mortos? Quais reflexões o cemitério evoca quando se pensa em morte?
Juliana Schmitt: Em termos de espaço físico, o modelo dos cemitérios urbanos que conhecemos visa incentivar a visitação e a fácil localização das pessoas lá enterradas, com sua área dividida em lotes e com a identificação das sepulturas. Uma lápide com nome e sobrenome representa a permanência da identidade da pessoa, um registro de sua passagem pela vida. Para a família e os amigos, é uma maneira de tornar presente aquele indivíduo. Ou seja, o cemitério não é meramente um lugar para depósito de corpos, é uma “área de convivência” entre vivos e mortos. Estar nesses lugares possibilita dar conta da própria finitude e do destino final da matéria humana, o que pode nos fazer refletir sobre a igualdade de todos perante a morte e sobre quais são as prioridades da vida.
Conexão UFRJ: Por quais transformações passou o cemitério? Como isso modificou a relação com a morte?
Juliana Schmitt: Em relação ao Ocidente, o cemitério passa por uma transformação importante entre o fim do século XVIII e durante o XIX, quando as teorias higienistas apontam o problema sanitário do acúmulo de corpos em igrejas ou próximo a elas, o que faz com que os cemitérios a partir de então passem a ser laicos e construídos fora das cidades. Isso modifica bastante a relação com a morte, entre outros motivos porque é preciso um deslocamento maior para visitação, mas também porque as pessoas tiveram que aceitar e se acostumar com a ideia de que seus mortos não estariam mais dentro dos lugares sagrados – em muitas cidades, isso gerou debates acalorados e até revoltas populares, como a Cemiterada, em Salvador.
Conexão UFRJ: Como a morte é tratada pelos mexicanos? A festividade deveria ser um exemplo para outras sociedades ocidentais?
Juliana Schmitt: No México, houve uma grande mistura entre as concepções dos povos originários e os colonizadores espanhóis católicos em relação à morte. Esse sincretismo resultou na forma como eles celebram o Dia dos Mortos: uma tradição cristã em que a Igreja estabeleceu um dia específico de homenagem aos finados, com os costumes das culturas pré-hispânicas, que homenageavam os seus mortos em meio a festividades diversas no decorrer do ano. Não sei se deveria ser um exemplo, mas, particularmente, acho muito bonita essa forma de ver o Dia dos Mortos como um dia especial em que os nossos entes queridos falecidos retornam por algumas horas ao nosso convívio – e isso ser motivo de confraternização.
Conexão UFRJ: Como as pessoas viviam o luto no século XIX?
Juliana Schmitt: É difícil apreender em termos de investimento emocional, mas a cultura material em torno do luto nos fornece informações importantes. Sabe-se, por exemplo, que em relação ao vestuário de luto havia muitas regras que estabeleciam os tipos, os tempos, o que se podia vestir ou não, e como. Logo, poderíamos inferir que era um assunto ao qual se dava atenção e se buscava seguir regras. Seria considerado muito desrespeitoso interromper um luto por um parente próximo e isso poderia significar passar meses usando uma variedade muito limitada de roupas, não participar de eventos sociais, não receber visitas, entre outras coisas.
Conexão UFRJ: O que a sociedade atual espera de uma pessoa enlutada?
Juliana Schmitt: O que se observa, em geral, é uma percepção do estado de luto como um estado mórbido, insalubre, que deve ser abreviado. Geralmente, as pessoas do entorno do enlutado tentam alegrá-la, falar de amenidades, pois a morte é considerada algo terrível e deprimente − e não um fato de nossa existência. Por isso, seria melhor nem falar sobre ela e incentivar a pessoa enlutada a retomar a vida normal. Claro que um tempo excessivo de um luto intenso pode ser preocupante – Freud já nos alertava para isso desde Luto e Melancolia. Mas o sistema em que vivemos é o da alta produtividade, do “não perder tempo”, e o luto, nesse sentido, é considerado contraproducente.
Conexão UFRJ: Como a Covid afetou a forma de lidar com a morte?
Juliana Schmitt: Num primeiro momento, o que se viu foi um assombro muito grande com tudo o que ocorria, o rápido avanço do contágio, os protocolos rigorosos, a agonia dos doentes sem ar, as valas coletivas, o descaso de algumas autoridades. Penso que ainda levará um tempo para realmente compreendermos o impacto que a pandemia teve em todos nós e na maneira como lidamos com a morte. Um dos objetivos de Três Lições da História da Morte é, justamente, tentar iniciar essa reflexão.
Juliana Schmitt é historiadora pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), mestra em Moda, Cultura e Arte pelo Centro Universitário Senac, doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e professora de História da Arte na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Baixe o livro Três Lições da História da Morte no site da Editora UFRJ