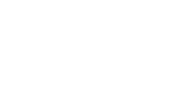Canavieiras, 11 de janeiro de 1963.
No entremeio do dia a dia da apolínea ilha de Canavieiras, João do Rio passava uma vez mais, correndo com seus cabelos queimados de sol e a pele de um dourado cobre. Como se o tempo lhe fosse irremediavelmente escasso, o rapazinho mantinha encravada uma típica feição de urgência. Os seus braços alongados e pernas esguias, como a maioria dos jovens de onze anos, carregavam-no por entre os caminhos da relva e mangue, aformoseando-se entre altos saltos e ritmados repiques velozes. Entretanto, o lugar do João não ficava em terra, era dentro d’água que o menino sentia o acalento e a sensação de liberdade, típicas das almas intocadas; quisesse achá-lo, procurasse no rio.
Naquele dia, deitado sem sobreaviso na rede do meu pequenino e pau para toda obra barco, a Camélia, de cor azul anil e listras brancas, eu o conheci. Havia aportado após uma gloriosa manhã de pesca quando descansei à rede depois do reconfortante almoço. O chapéu tapando-me as vistas, a mente tomada por um morno vazio, atravessando a saborosa fronteira entre a vigília e o sono leve… então, escuto, sabe-se lá depois de quanto tempo, um cuidadoso ruído, daqueles quando não se quer incomodar ou ser pego em flagrante. João subia o barco no mais humano silêncio, sorrateiramente se apropriando da panela, que descansava sobre o fogãozinho, uma faca embainhada e um peixe Robalo grande, repousado no chão com os olhos esbugalhados e inertes. Assustado, levantei-me em sobressalto estabanado, enquanto o larápio, igualmente surpreso, corria abraçado aos meus pertences que mal cabiam em seus braços magricelos. — Peste! Esbravejei, no mesmo momento em que ajeitava as calças com o cinto desafivelado e pulava barco afora em perseguição. Miúdo, ele se movia como uma brisa, esgueirando-se entre a vegetação do mangue próximo em direção incerta. Seus pés velozes baqueteavam o chão desnivelado de terra e grama, produzindo um tipo de samba natural misturado entre gente e ambiente. Com longas puxadas de ar, parei defronte do manguezal para retomar o fôlego perdido pelos anos.
O mangue não é o terreno dos fortes, mas dos ágeis e resilientes. Exala cheiro forte e salgado de lama e folhas. Sua paisagem é tomada por troncos retorcidos, formando uma espécie de horizonte labiríntico, no qual, à primeira vista, olhares e ouvidos desatentos poderiam concluir se tratar de um ambiente mórbido; mas é justamente o contrário. Em cada pedacinho que a vista acaricia, escondidos pelas esquinas do labirinto nodoso, camuflados na rica lama serena, pequenos olhos aparecem direcionados a nós como se perguntassem: quem seria este ser estranho a invadir o paraíso da vida? Ao fundo, escutava nitidamente uma risada enfadonha perdendo gradativamente o volume. Já sobremaneira irritado, voltei a passos raivosos para a Camélia, que aguardava quieta à beira-rio com ar jocoso. Se ela tem qualquer tipo de consciência, como suponho ao transformá-la em minha nobre interlocutora, certamente estaria zombando da minha patética cara esbaforida agora.
Ao menos a tarde estava linda: o rio esverdeado deslizava em ritmo constante, na medida em que o sol, radiante, coloria a superfície com uma tênue pincelada de tom amarelado. O restante da pescaria é que não foi das melhores. Horas a fio sobre as águas e não peguei mais do que pequenos peixes desavisados. Então resolvi, já exaurido próximo ao pôr do sol, descansar o juízo com algumas doses de aguardente no famoso e bem frequentado bar da rua, Ilhéus. Era uma espelunca, realmente, mas não havia lugar melhor na cidade para beber do que o bar Zé Catita. Fedia a cerveja quente e cigarro barato; além do mais, era comum ouvir o barulho das garrafas quebrando para servir de arma em alguma eventual briga, enquanto gritos de “eu te mato, desgraçado”, seguidos por “se saia, corno manso”, ecoavam como se fizessem parte da trilha sonora do ambiente. Uma perfeição, de fato. Mas não me entenda mal, os canavieirenses não são um povo de briga, longe disso; exceto, obviamente, se for para sair em defesa da própria honra. Basta o interlocutor escorregar em um adjetivo proibido, ou empregar determinado substantivo indevido, que o sujeito já se posta rapidamente com o peito estufado, pronto para uma amigável troca de socos e pontapés. Quando tem bebida no meio, então, a fragilidade dos ouvidos fica ainda maior.
O ambiente estava ameno, alguns poucos beberrões jogando dominó no meio do pequeno salão e um homem, com mais idade, sentado sozinho em uma mesa ao canto. Mesmo hoje não me recordo o seu nome, embora fosse comum vê-lo sempre cabisbaixo em algum bar da ilha, com sua mão escura repleta de cicatrizes apoiando a testa cansada e o olhar profundo e perdido. Tomei minhas doses sem pressa, ninguém me esperava em casa; na verdade, penso que ninguém sequer me esperasse em qualquer canto. A noite, que ia se prolongando, dispersava os transeuntes das ruas arenosas, ao tempo em que o bar tomava a forma do espaço vazio. Catita, o dono, parecia cansado depois do dia de labuta, limpava alguns copos como em estado hipnótico e, de quanto em quanto, enchia o meu sem perguntar. E de dose em dose, minhas vistas foram esmaecendo, o cansaço pesando sobre os meus ombros fatigados. Apercebi-me, após alguns devaneios, completamente sozinho no salão, nem uma almazinha penada para aporrinhar-me o juízo. Levanto-me, coloco os trocados sob o copo acima do balcão e sigo em direção ao porto, um pouco cambaleante, para dormir no interior da minha querida Camélia.
As ruas brilhavam sob o luar: areia batida, árvores e alguns gritos que ecoavam das casas formavam a composição da minha caminhada. Agora, já com o corpo deitado sobre a rede, acompanhado pelo cheiro do rio e dos peixes, lembrei do senhor solitário, me vi naquele corpo consumido pelo tempo, pedaço de carne machucada. Pareceu-me um futuro irreversível: a solidão e a morte em meio à beleza da nossa ilha; pelo menos, túmulo mais belo não haveria. Perdoe-me, mas você sabe o que é olhar fixamente seu reflexo e não reconhecer o que vê? Quero dizer, não literalmente, mas como se a vida tivesse decorrido tão rápido que o nosso presente fosse um sujeito desconhecido, fugindo infantilmente do nosso passado, cavando buracos para enterrar os nossos erros e arrependimentos. Não sei, sinto que a minha vida tem sido qualquer coisa, menos minha, é assim que me sinto, completamente assim, completamente, como se chegar até aqui tivesse sido um grande tropeço, um enorme e doloroso tropeço. Não muito distante, escutei um estampido alto e seco. Teria a bala encontrado a carne quente d’algum pobre coitado? Pergunto, e sem resistir à curiosidade, sigo suavemente pelas partes mais escuras da vegetação na direção do que parecia a fonte do barulho. Pouco andei e logo avistei adiante três sujeitos. Dois estavam em pé, aparentemente na casa dos trinta e poucos anos; o outro, muito mais jovem, sentado no chão com a mão comprimindo forte a perna direita. Havia sido ferido, mas o tiro não fora fatal. Escondido, mantive-me agachado atrás da vegetação, o olhar atento a cada movimento, calculando se de algum modo poderia intervir. Mas para fazer o quê? Aquilo me parecia uma situação nada promissora, o melhor era esperar… sim, esperar.
Os três discutiam afoitos; eu, silêncio. Gesticulavam, batiam e o empurravam; enquanto o suor escorria vagaroso pelo meu peito peludo, mosquitos pousando em minha pele, zumbindo nos meus ouvidos. Ordenaram que se levantasse, bateram-lhe suavemente no ombro e apontaram uma direção. Apertei meus olhos míopes na tentativa de superar a escuridão cerrada. O jovem começou a andar mancando, era todo dor o coitado, mas segurava o choro bravamente. Dava para sentir, mesmo de longe, a brisa vinda do rio, logo atrás dele, carregando seu odor em minha direção. Sim, perfeitamente, eu conseguia sentir, perfeitamente, parecia que ele estava sentado ali do meu lado, tocando com sua mão pequena minha disritmia. Mais um disparo: curto, seco, covarde. Em uma piscadela e lá estava o corpo estirado, os olhos esbugalhados e inertes. Na hora me veio um ímpeto inédito, por algum motivo eu quis gritar, correr, lutar; mas fiquei parado, escondido, acovardado. Meu cinto meio desafivelado, os pés descalços; seu corpo estirado com a face de urgência a beijar o chão. E, como se estivesse ensaiado, a lua deslizou por detrás da nuvem, emitindo um fio de luz prateada sobre o corpo do João. Os outros dois o seguraram, dispensando-o insensivelmente no rio. Estou quase certo de que um deles era o filho do fazendeiro, Vieira. Mas nada disso importa. Sabe o porquê? Sim, você sabe, todos sabemos. Ninguém aqui dá a mínima. Amanhã o sol vai raiar como todos os dias, o bar se abrirá como sempre, o senhor solitário sentará na mesa ao canto, os homens e as mulheres seguirão indiferentemente suas rotinas, cuidando dos seus empregos, das casas, dos sonhos, dos cachorros. Não há por que sentir falta de um moleque qualquer, um número frio, incômodo, desajustado; não é? É assim que funciona. Todos os dias, desde sempre. O corpo seguirá pelo rio, levado pela correnteza, mordiscado pelos peixes, sob a sombra das gaivotas ao luar e, como tudo na ilha, terminará no mangue. Primeiramente, levado por um estreito caminho d’água, margeado por árvores finas de ambos os lados; então, sobre a lama, João do Rio se tornará história.

Mestrando em Sociologia pela UFRJ, vim com meus “pataquás” lá do Nordeste. Cinco carnavais em Salvador, mais uns tantos em Canavieiras; no Rio, é o primeiro. Vou indo bem, obrigado, mesmo com as contradições da vida, o coração segue repleto de afetos. Pesquiso literatura brasileira e escrevo poesia e prosa.
Quer seu texto no Conexão Literária? Envie sua crônica, microconto, cartas, HQs ou outro gênero de até 10 mil caracteres para o e-mail conexao@sgcom.ufrj.br.