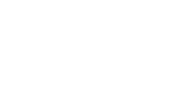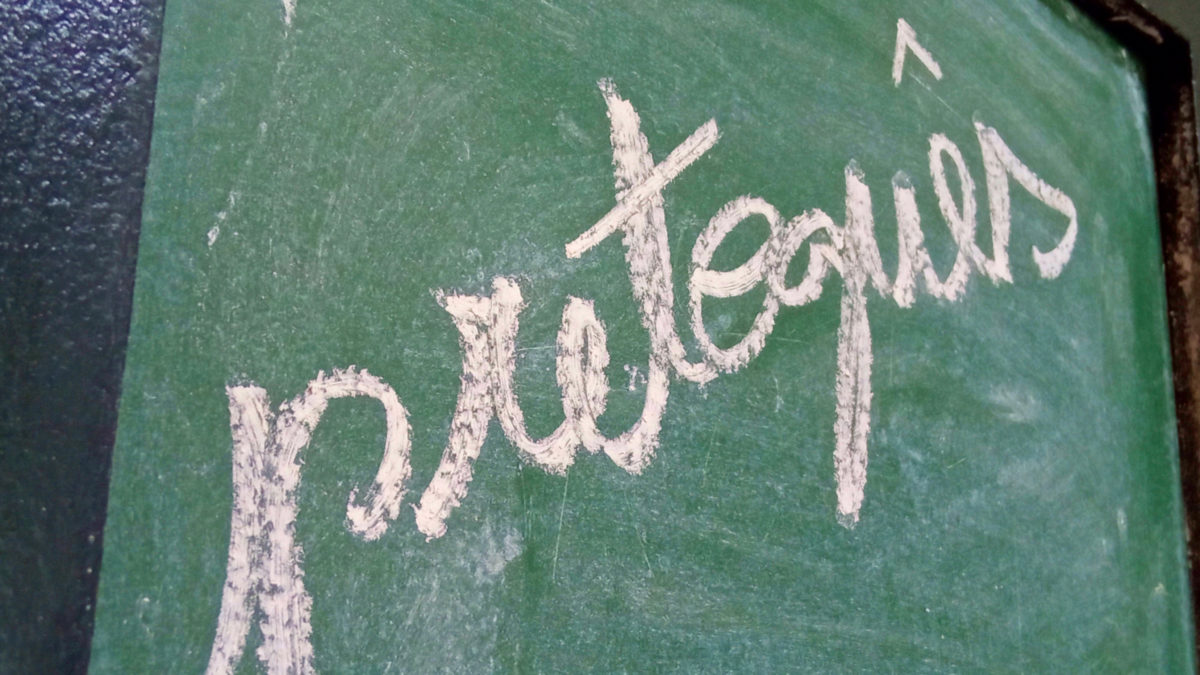Podem parecer meio clichês as tantas afirmações identitárias surgidas toda vez que estamos diante de situações acadêmicas, mas, infelizmente, não são. Durante minha trajetória formativa como docente, tive − e tenho − que lidar com alguns insights de como é ter o corpo que me habita e que me significa atuando na educação. Penso agora em todes companheires de profissão que se omitem ou tentam anular seus corpos e identidades por conta de uma lógica que ensinou, e faz questão de insistir, que somos modelos prontos, acabados e à imagem e semelhança das crenças de um só lado das existências.
Tornar-se professor/professora de língua talvez seja um dos maiores desafios que pode ter um sujeito cujo corpo é significado socialmente como periférico. E se negro carregado de suas culturas, os obstáculos tomam outras proporções do tamanho de uma memória racializadora. Eu falo de língua porque é a língua que costuma maltratar os corpos não legitimados pela lógica de poder da sociedade. Geralmente, ouvimos de alunos e alunas o tão dito “eu odeio português”. Essa estranheza com a língua parece não terminar com a saída da escola, pois mesmo fora dela o “nós não sabemos falar o português correto” perdura como um fardo que silenciosamente vai costurando a vontade de dizer e se dizer.
Somos nós que não falamos bem, que usamos gírias, que não gostamos de ler e escrever, somos nós que não temos cultura… A língua que usamos é indesejada. Marginal! É rústica, é interditada! Seriam percepções que se baseiam no fato de realmente existir uma língua melhor para ser dita ou porque nós de cá sempre falamos a memória dos povos que foram destinados a ser escravizados pela ganância de poder das dominações coloniais? A grande filósofa Lélia Gonzalez nos ensina que a tal língua não desejada é nada mais que o pretoguês! Logicamente é uma língua que insiste em contar as histórias que não deixam adormecer os da casa-grande, como lembra a gigante da escrita, Conceição Evaristo. Deve ser por isso que a língua que sai das vozes periféricas incomoda tanto.
Voltando ao desafio de ser periférica e me construir professora de língua, primeiro − e suficiente −, eu jamais me vi como professora. Quando a faculdade de língua chegou para mim por meio da ancestralidade, fui tomada pelos anos desses mesmos dizeres que ouvia na escola, e por todo o trajeto daquele curso me questionei sobre poder ensinar algo que eu não sabia! Mais que isso, aquilo que não me pertencia. Meu primeiro movimento era pertencer àquela língua. Desejava “saber de cor” toda a lição, elemento gramatical tim-tim por tim-tim! Classificar bem, reconhecer cada termo, absorver o maior número de “palavras difíceis”. Ficar dentro do padrão de uma boa falante, boa escrevente, boa professora de língua.
O problema é que, apesar de o conhecimento hegemônico fazer um esforço absurdo para silenciar, os corpos gritam! Corpo fala, corpo educa! O meu, carregado de ancestralidade, lembrava-me do incômodo, recusava o movimento da estagnação de tantas práticas de exclusão e do reforço das mordaças! A escritora Grada Kilomba nos diz como as políticas de dominação criaram máscaras sobre os corpos lidos como outros, e que essas políticas decidem quem pode ou não falar.
Se minha boca não dizia, o corpo gingado, no gincá e na jira, fazia o trabalho. Como na escola vemos alunos e alunas com seus corpos em gestos e vidas! Gingando, tentando driblar o sistema que não os vê como produtores de saberes. E como isso abala as estruturas de um espaço educativo que carrega sentidos de corpos tolhidos, calados, enfileirados, uniformes, sentados à espera da cópia do quadro! Novamente, corpo educa! Educa espaços.
Esse aluno e aluna ideal logicamente precisa ver um mesmo professor/professora ideal! Essa escola, que ainda há, exige um corpo ideal. Lembro o dia em que entrei na sala de turbante, ainda com meu corpo-terreiro silenciado para aquele espaço (era o que eu achava), e uma aluna disse: “Parece uma macumbeira.” E o outro: “Não fala isso da tia, ela é legal, gosta da gente, ela não parece isso, não.” A fala dita por olhares e pelos tais modos sutis seria repetida na universidade, durante o mestrado e toda vez que meu corpo-terreiro aparecia demais na escola.
Uma prática de língua que foge ao que os critérios acadêmicos canônicos estabelecem costuma ser assustadora para os olhos educados ao universal, ao mesmo padrão de ensino, aquele mesmo que nos diz que tudo que não é branco, europeu e chique está errado! Uma leitura fora do que a escola costuma oferecer gera vozerios incomodados, um conto bantu! Nzambi? Que nome esquisito, “Deus me livre”! No primeiro projeto antirracista, “a professora é macumbeira e obriga a gente a participar de macumba”, “muita bagunça, professora”.
Os corredores costumam apelidar − “lá vai os projetinhos”, “lembrei de vocês que gostam desses assuntos” − aqueles que se atrevem a fazer de outro modo. Em termos de língua, passamos a ser questionados de nossas formações, da possibilidade de sermos competentes em nossas atribuições com o ensino da língua. Se não é a língua de Camões, de Drummond ou de Bechara… havia de não ser língua! É que a visão do ensino que levamos na bagagem é classificatória e baseada em escritores brancos cujas temáticas contam sempre as suas interpretações sobre o mundo. E se, na sua bagagem, há histórias da “oralitura”, memórias ancestrais, doses de resistência, gingas, molecagens, giras, pé descalço no chão, banhos de chuva na rua, doces de Cosme e Damião… e todos os medos e atrevimentos por sermos quem somos, elas geralmente não são tão boas para serem lidas como educação.
A língua não deveria oprimir! Mas oprime. Só que ela também é a possibilidade de dizer nossos corpos. É por saber que as línguas contam histórias e dizem memórias de nós que devemos pensar sobre o porquê de ainda pensamos que ela é propriedade de apenas um grupo que, por lógica, será socialmente legitimado por seu uso. O que nós, professores e professoras de língua, vamos continuar defendendo sobre seu ensino e fazendo com ele?
Certa vez, durante uma conversa no mestrado, uma companheira da educação, a professora de língua Monique Santos, mulher negra e periférica, disse que em uma das suas primeiras aulas no curso de Letras ouviu “Só de olhar e ouvir você falar, eu sei da onde você veio”, da professora universitária numa aula de variação linguística. Parece irônico, e é. O problema não é saber, mas o que se soube, o que foi delimitado como saber sobre sua imagem e origem! Quem tem direito a ela? Deixo essa questão para nós amargarmos as chagas de uma sociedade racista.
Se ser falante de um imaginário de língua que legitima um só lado da história já é um trajeto de muitos cortes, imagine ser professor que deve ensiná-la! Agora pense em quem não quer fazer igual ao que já está posto. Todo planejamento é um turbilhão de sensações sobre “o que você está negando ao aluno”: a língua verdadeira, os concursos públicos, o direito a falar corretamente, a ser alguém na sociedade. Esses são os discursos mais ouvidos nos corredores da educação.
Mas o que é ser alguém mesmo? Será que o que realmente estamos negando não é o direito à história, à memória, ao escrever e inscrever seu corpo nas linhas da vida em vez de fragmentá-lo? Imagine a cabeça de um professor de língua que decidiu pelo ensino fora do que toda a instituição faz como verdade. Acrescente a ele significações estereotipadas sobre o próprio corpo… o que deveria ser óbvio, que a língua com a qual a escola e a sociedade ainda significam e se significa é racista, misógina, homofóbica, conta só um lado das existências, vira uma questão pessoal, de uma único grupo, como caixas temáticas, como bolhas de relacionamento aplicadas à educação.
O interessante a se observar é que aquela sensação de não pertencer nos volta sempre que pode, mesmo com o diploma debaixo do braço. Parece incansável ter de insistir que as práticas de educação precisam mudar, pois elas devem também representar a história e a memória de mais da metade da população brasileira! E a língua está ali como elo de todo discurso, seja de dominação, seja de resistência. Fecho sem querer fechar, pois uma porta do dizer, quando aberta, é como um rio furioso procurando curso, dizendo que por aqui não há apenas uma professora de língua sufocada com utópicas palavras. Há uma mulher de terreiro, professora periférica, antirracista e sonhadora com a educação, que sabe da existência de tantos e tantas colegas que também verão um pouco de si e outros que, não se vendo, podem se mobilizar a educar o olhar. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Se era para aprender a falar, acho que consegui.

Mulher de Terreiro, corpo encantada pelas águas. Professora de Língua Portuguesa da educação básica. Mestre em Linguagens na área de Análise do Discurso (FFP-Uerj). Pesquisadora em educação antirracista. Sonhadora e na luta.