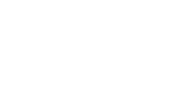Fotos: Diogo Vasconcellos (Coordcom/UFRJ)
Os indígenas que (re)existem no Brasil do século XXI são constituídos por mais de 300 etnias. Eles habitam seus territórios em consonância com uma diversidade de seres, cultivando modos de vida que não estão atrelados ao extrativismo, à exploração e às “urgências” do capital. Por esse motivo, juntamente com quilombolas, varzanteiros, geraizeiros, caiçaras, ribeirinhos, pescadores artesanais, ciganos, açorianos, seringueiros, entre outras comunidades tradicionais brasileiras, são reconhecidos como guardiões de nossos biomas. A defesa do meio ambiente, então, está atrelada à defesa dos povos originários e esse foi um dos temas em pauta na 10ª Semana de Integração Acadêmica (Siac), realizada de 21/10 a 27/10.
No debate intitulado “UFRJ pela Amazônia e causas indígenas”, conversaram com o público Michael Baré Tikuna, educador e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Anapuáka Tupinambá e Renata Tupinambá, comunicadores e fundadores da Rádio Yandé; e Ricardo dal Farra, professor da Universidade de Concórdia (Canadá). A mediação foi feita por Henri Acselrad, professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur) da UFRJ.
Contexto de exploração
Acselrad introduziu o tema falando sobre a “grande agricultura comercial capitalista”, uma das principais ameaças à diversidade biológica e às culturas tradicionais. “Se a gente olhar hoje, a monocultura de exportação, que recebe todo o apoio do governo, ocupa terras em grandes extensões, com poucas espécies, homogêneas, que para sobreviverem isoladamente requerem uma intensidade de produtos químicos e manipulações genéticas”, analisou.
O professor da UFRJ destacou a importância de a universidade somar-se aos indígenas na luta por seus direitos, uma vez que eles conhecem bem os malefícios desse modelo vigente e o enfrentam dia após dia. “Tem se falado muito da Amazônia em sua dimensão ambiental, seu papel na regularização de chuvas, no combate às mudanças climáticas, inclusive na qualidade do ar das grandes cidades, mas tem se falado pouco sobre os povos indígenas que, na verdade, preservaram essa floresta e lutaram para protegê-la com seus conhecimentos e sua cultura”, afirmou.
Michael Baré, natural do estado do Amazonas, filho dos povos Aruak e Tikuna, trouxe a ideia de que a Amazônia e os povos da floresta são órfãos e ao mesmo tempo reféns do Estado brasileiro. “As comunidades locais indígenas e caboclas compartilham com grandes empresas globais recursos escassos [oriundos de] investimentos governamentais, recursos financeiros, sociais e ambientais que impactam localmente o entorno. Trabalho escravo, desmatamento, poluição, tudo isso [tem sido] financiado com os recursos públicos. (…) Por outro lado, o patrimônio genético e o conhecimento tradicional dos indígenas e caboclos são exportados, patenteados, sem maiores ingerências e controles governamentais”, explicou.

Para Michael Baré Tikuna, povos indígenas são reféns do Estado
Ele recuperou fatos históricos para comprovar que a mentalidade da exploração sempre esteve presente nas atividades econômicas empreendidas na Amazônia brasileira, área que abrange Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. “Em 1800, por exemplo, Alexander von Humboldt acreditava ser a Amazônia o celeiro do mundo. (…) Entre 1913 e 1914, Theodore Roosevelt, na Expedição Rondon, vislumbrava as corredeiras do Rio Amazonas como geradora de energia elétrica para abastecer indústrias de grande porte, unidas entre si por ferrovias. A exploração e o desmatamento já ocorriam em 1876 (…) e a Wolkswagen, no município de Santana do Araguaia (Pará), em 1973, recebeu do governo militar brasileiro 140 mil hectares e 75% de todo o capital necessário para desenvolver um projeto de agropecuária”, esmiuçou.
O que é e quem faz a Amazônia?
Anapuáka Tupinambá lembrou que, na verdade, não existe somente uma Amazônia, mas sim várias, pois se trata de um território cujos sentidos são múltiplos. “Elas são criadas em camadas – biológica, política, social, cultural – e, também, em esferas – de algoritmos, binários, mapas, territórios mentais. Todas essas Amazônias ignoram aquela Amazônia que foi constituída pelos povos indígenas”, provocou.
Ele criticou a conversão da floresta em objeto de negócios e fonte de consumo, defendendo a importância de sentir que, na verdade, o meio ambiente é parte do corpo de cada ser vivo. “Tenho trabalhado com muitos projetos em realidade virtual, mas não é isso o que eu quero. Eu quero a minha floresta, o meu sertão, o meu cerrado, a minha caatinga. E, por que, de alguma forma, ignoramos as nossas responsabilidades do dia a dia? Devemos nos preocupar com as gerações futuras”, defendeu, propondo mudanças de hábitos e valores para evitar a morte não somente de um bioma em risco, mas de todo o planeta.
Renata Tupinambá questionou: “Quem faz o nosso território? Nós ou as grandes corporações?”. Ela apresentou a destruição do meio ambiente – e das culturas tradicionais – como algo estrutural, sistêmico e programado pelo poder econômico. No entanto, defendeu que a “força da natureza” pode ser ainda maior. “Ninguém para o vento, a chuva, os tremores de terra. Então, qual é o verdadeiro poder? A gente que é indígena consegue compreender esse poder. A cada respiração, a vida nos conecta a todos os seres e, nesse momento, nossa vida não pertence mais somente a nós, mas sim a todo o entorno”, explanou. “Compreender isso é compreender que estamos ligados, respirando juntos, e que isso faz parte da nossa ciência ancestral”, continuou.
Como evitar a morte?
Consenso entre os participantes foi que a morte da natureza e das culturas tradicionais tem chance de ser evitada somente se a população mundial se comprometer com uma transformação profunda de hábitos, pressupostos e valores. Ricardo dal Farra, que leciona no Departamento de Música da Universidade de Concórdia (Canadá), deu ênfase ao papel das artes nesse giro epistêmico e propôs o fortalecimento de redes que compartilham saberes, sem distinção entre o que é ou não conhecimento científico.

UFRJ em Defesa da Amazônia e Causas Indígenas, na 10a. Siac
“Vivemos em sistema de crenças, hoje o dinheiro existe e está na centralidade, amanhã serão os dados. Isso é o que devemos mudar. O mundo real é o que somos parte, o mundo das desigualdades sociais e ambientais, da miséria, das mudanças climáticas, do aumento do nível do mar, da extinção de espécies etc. Mas não queremos o bem comum? Não podemos esperar o futuro, temos que agir agora provocando mudanças nos modos de viver”, defendeu o pesquisador que, em suas pesquisas, deixa-se guiar pela seguinte questão: “As artes podem ajudar a salvar o mundo ou, pelo menos, as pessoas que estão no mundo?”.
Os intelectuais indígenas também defenderam a “mudança do mundo” por meio da construção de novos esquemas de pensamento e consequente renovação dos padrões de vida. Baré deu foco na educação, relatando sua experiência com a Universidade Indígena da Aldeia Maracanã: “A educação é a única arma que não causa genocídio”. Anapuáka sugeriu “hackear” a universidade, no sentido de aproveitar suas brechas para propor debates, despertar críticas e novas proposições. E Renata propôs a busca por ser “um bom ancestral”. “Que ancestral você será para as próximas gerações? É preciso se perguntar isso, compreendendo que tudo está interligado. Não é uma fala poética, é a realidade, carregamos o fogo, a terra, o ar e a água em nosso corpo”, pronunciou.
Para finalizar, a pró-reitora de Extensão e coordenadora da 10ª. Siac, Ivana Bentes, disse que a universidade deve reconhecer a maestria dos povos tradicionais e anunciou que a UFRJ começa a se aproximar desse debate, de forma institucional. “Essa é uma discussão importante para recebermos, dentro desta Universidade, os docentes indígenas. A UFMG está fazendo isso; a UnB, dentro do projeto Encontro de Saberes, também”, apresentou.