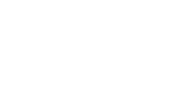Resistência, conquistas e (trans)formação. Janeiro é considerado o mês da visibilidade trans em função do dia 29/1, data simbólica para a causa. O marco tem como objetivo relembrar os direitos do grupo “T”, da sigla LGBTQIAPN+, lutar contra a transfobia e conscientizar sobre a importância da inclusão do grupo na sociedade. O Conexão UFRJ conversou com três estudantes trans da universidade, que contam um pouco das suas experiências, desafios e desejos para dentro e fora do ambiente acadêmico.
O dia da visibilidade trans é uma homenagem ao ato histórico de ativistas em favor do respeito à diversidade no Brasil. Em 29 de janeiro de 2004, manifestantes se reuniram no Congresso Nacional, em Brasília, defendendo a campanha “Travesti e Respeito”. O movimento, liderado por representantes da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), em parceria com o Ministério da Saúde, resultou no reconhecimento de causas trans existentes até hoje, como o nome social, empregabilidade e criminalização da LGBTQIAPN+fobia.

O estudante de Psicologia Thárcilo Hentzy, de 27 anos, entende a data como uma forma de reforçar a importância das pautas de pessoas trans e travestis, colocá-las em debate e mostrar o lugar que ocupam na sociedade.
“Para além do estereótipo, podemos falar por nós mesmos e não esperar que a medicina valide o que somos. Então visibilidade é trazer as nossas narrativas, trazer as nossas histórias e mostrar que estamos em vários lugares. Estamos atendendo pessoas, estamos produzindo saúde, produzindo educação, estamos na área da comunicação e em várias outras.”
Preconceito e violência
Transfobia é o nome dado ao preconceito contra transgêneros e travestis s, e, assim como outras formas de discriminação, atitudes transfóbicas estão enraizadas no meio social desde o passado. Durante a ditadura militar, por exemplo, o grupo era perseguido pela polícia, pois seu comportamento era visto como “ameaçador” à juventude e ao regime da época. Mesmo depois do período ditatorial, a partir de 1987 a Polícia Civil de São Paulo continuou com a perseguição por meio da “Operação Tarântula”, que legalizou a prisão arbitrária do grupo na cidade. A justificativa da ação era o combate ao HIV, doença que vivia um surto de contaminações na época. Aproximadamente 300 travestis e mulheres trans foram caçadas na ação policial.
Atualmente, apesar dos avanços na legislação, a violência e o preconceito ainda são uma realidade para essa população. Segundo dados do “Dossiê: Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022”, produzido pela Antra, o Brasil é o país que mais mata integrantes da comunidade trans e travesti pelo 14º ano consecutivo. O levantamento revela que no ano passado 131 pessoas trans foram assassinadas no país e 20 cometeram suicídio. Cerca de 72% dos suspeitos de assassinato não tinham vínculo com a vítima. O relatório afirma que a identidade de gênero é um fator determinante nos atos violentos. Por esses e outros motivos, o estudante de Pedagogia da UFRJ Noah Gabriel Nogueira, de 20 anos, diz que “todo janeiro é tempo de relembrar que existimos e que não vamos deixar nos matarem. Precisamos viver dignamente”.

O Dossiê foi entregue ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) na última quinta-feira (26/1). O ministro da pasta, Silvio Almeida, lamentou os números presentes nas páginas do relatório e enfatizou que a existência do documento é fundamental para impulsionar o Brasil a superar essas tragédias, a partir da transformação. “É possível construir um país suportando o assassinato de pessoas só porque elas são o que elas são? Se não tivermos a decência de mudar essa realidade, não merecemos ser um país”, disse. A secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+ Symmy Larrat afirmou que é preciso ultrapassar a simbologia de ser a primeira travesti a ocupar o cargo.
“Iremos trabalhar com ousadia. Vamos realizar entregas importantes para a população brasileira. Os dados que recebemos hoje vão reger a criação das nossas políticas públicas”, completou Larrat.
Além do medo da violência física, outro grande desafio social da pessoa trans é ter o reconhecimento de sua identidade por parte da sociedade. E isso começa pelo nome. O “nome morto”, como é chamado o registrado ao nascer, dá lugar ao nome social do indivíduo, a partir do qual ele realmente se identifica e quer ser chamado. É uma nova identidade, diferente daquela que lhe foi dada no nascimento. A dificuldade, no entanto, é fazer com que as outras pessoas também o identifiquem assim.
“O novo nome tem um grande peso e significado sobre quem eu sou, é um renascimento. Meu nome me dá poder”, diz Noah Gabriel. Segundo ele, cada vez mais o nome social é reconhecido e utilizado, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
Outra importante questão para a população trans é o uso dos banheiros. O que para muitos é apenas uma divisão entre “feminino” e “masculino”, para as pessoas que fizeram ou estão em processo de realizar a transição de gênero é algo muito mais significativo e que pode ser motivo de uma agressão física ou verbal. Como não há legislação federal que garanta o acesso de pessoas trans aos banheiros públicos de acordo com o gênero que se identificam, coube ao Supremo Tribunal Federal (STF) implementar o debate.
No entanto, a proposta que trata da questão está parada na corte desde 2015, quando o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o caso. Apesar de ser um tema que gera constantes debates no meio social, o local é foco de atitudes transfóbicas. Noah Gabriel conta que se sente mais seguro no banheiro feminino, mas não mais confortável, e que já chegou a ser expulso de lá. Segundo ele, já passou por diversos constrangimentos em banheiros públicos.

Para a estudante de Dança da UFRJ Joanne Vênus Cosmos, de 25 anos, há diferentes formas de discriminação quando o assunto é a visão da sociedade sobre as pessoas trans. Segundo ela, principalmente as mulheres trans e as travestis são muitas vezes vistas como algo a ser objetificado, corpos sexualizados e abusados. Além disso, ela diz que também existe o lado da “supervalorização”, que as coloca em locais de pessoas anormais diante do resto da sociedade.
“Colocam a gente nesse lugar também como se nós fossemos extraterrestres mesmo, sabe? Como coisas exóticas e de outro mundo.”
Joanne também afirma que existe o “lado do ódio”. Ela conta que, na época em que ainda fazia a transição de gênero, estava sozinha na praia quando recebeu um chute no rosto de um homem que tinha acabado de passar. Sem saber o que fazer, apenas saiu correndo do local com um sentimento enorme de insegurança e tristeza.
“É na nossa própria sociedade, no próprio bairro e até na própria casa que a gente sofre diariamente. Você colocando o pé para fora já corre o risco de passar por isso. É um olhar, uma fala, um abuso ou uma agressão”, diz.
Em uma sociedade marcada pelo machismo e pelo patriarcado, o homem trans tem que lidar com o preconceito e a pressão sobre a sua aparência e personalidade. Thárcilo conta que, mesmo depois da hormonização, ainda tem alguns traços femininos e não faz esforço para representar a masculinidade. No entanto, segundo ele, já recebeu diversos tipos de tratamentos homofóbicos e transfóbicos pelo fato de se reconhecer um homem mais afeminado.
“Antes da hormonização, quando eu ainda tinha um corpo mais feminino, o preconceito vinha, muitas vezes, do não reconhecimento mesmo. De não verem como um homem e questionarem isso. Não respeitarem, não tratarem nos pronomes certos.”
O estudante participa da equipe editorial da revista digital Estudos Transviades, criada em 2019 a partir da necessidade de visibilização e respeito das transmasculinidades. Além dele, mais três alunos da UFRJ fazem parte da equipe editorial. A revista também conta com participações de pessoas transmasculinas de outras universidades e já graduadas. Com sete edições lançadas de forma semestral, algumas delas foram reunidas e deram origem a um livro intitulado Corpos Transitórios – narrativas transmasculinas, disponível on-line.
“Eu acredito na revista com uma potência muito grande porque abre esse espaço para que a gente tenha um lugar seguro para colocar a nossa realidade. Para a gente continuar e melhorar nossa existência. A gente vê que não estamos sozinhos. Poder compartilhar isso, poder se reconhecer e poder se acolher de alguma forma.”, diz Thárcilo.
A questão trans na UFRJ
A UFRJ está entre as nove universidades federais no Brasil que têm cotas para a população trans e travesti em pelo menos um de seus programas de pós-graduação. Quando se trata de cotas na graduação, somente as federais do ABC (UFABC), da Bahia (UFBA) e do Sul da Bahia (UFSB) abrangem o grupo entre os cotistas. O tema gera debate entre ativistas, entidades estudantis e especialistas. Pessoas a favor da implementação de cotas para o grupo “T” defendem certa reparação histórica em relação à exclusão de minorias do acesso à educação. Por outro lado, os que discordam da posição argumentam que os critérios para aferição das pessoas trans com direito à cota seriam “impossíveis de serem estabelecidos”.
Apesar do debate em torno da questão, estatísticas mostram que ainda são poucas as pessoas trans e travestis no meio universitário. Segundo dados da Antra, cerca de 70% das pessoas do grupo não completaram o ensino médio e 0,02% tiveram acesso ao ensino superior. Aos que fogem das estatísticas e alcançam a vaga na universidade, como Thárcilo, Joanne e Noah Gabriel, os desafios são outros. Embora reconheça os avanços da UFRJ comparados a anos atrás, a estudante de Dança ainda não se sente completamente reconhecida na instituição. Ela conta que já passou por diversas situações de transfobia na faculdade, principalmente relacionadas a erros de pronome.
“Isso acaba muitas vezes fazendo com que a gente se afaste, tranque matérias e não esteja presente como a gente precisa e merece. Porque esse lugar também é nosso.”
Há ainda as interseccionalidades que dificultam ainda mais a inclusão no meio acadêmico. Noah Gabriel e Thárcilo são homens trans pretos e relatam a dificuldade de se sentirem pertencentes à universidade. Nas palavras do estudante de Pedagogia, “é uma constante sensação de que aquele não é um lugar para alguém como eu, ou que não adianta estar ali”.
Já o aluno de Psicologia conta que, no início da graduação, foi muito difícil se reconhecer no espaço, já que não tinha contato com outras pessoas trans com quem pudesse compartilhar suas vivências.
“Isso é necessário para que eu me veja nesse lugar como alguém atuante e importante, que está ali construindo conhecimento, construindo futuro”, completa.
Em 2015, a UFRJ regularizou a possibilidade dos estudantes transgêneros e travestis utilizarem o nome social em seus registros acadêmicos. Documentos internos como diário de aula, confirmação de registro em disciplinas, boletim de orientação acadêmica, entre outros, passaram a registrar o nome social dos estudantes. No entanto, o “nome morto” ainda é utilizado muitas vezes no meio universitário.
Noah conta que quase perdeu a vaga na faculdade por um erro com seu nome social. O jovem explica que foi para o procedimento de heteroidentificação no dia designado para pessoas com a inicial “N”, mas foi informado de que deveria ter ido no dia da inicial de seu nome morto, mesmo com o social já registrado no cadastro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além disso, em novembro de 2022, Noah participou de um vídeo para a rede social do Diretório Central dos Estudantes (DCE), denunciando o uso do seu nome de registro na lista de alunos para um processo de eleição interna da faculdade. No vídeo, estudantes denunciam outros casos de desrespeito ao uso do nome social em listagens da Universidade.
Thárcilo também lembra que foram muitas as vezes em que recebeu e-mails, documentos ou teve seu nome de registro lido em sala de aula durante a chamada.
“Entendo que é um sistema que tem toda uma burocracia e técnicos lá dentro, mas acredito que não seja impossível de fazer essa mudança. Acho que é necessário adaptar isso porque é um direito nosso nome ser respeitado, nossa identidade ser respeitada”, diz.
A falta de capacitação de professores e outros funcionários da universidade para reconhecer e tratar pessoas trans e travestis também é um problema citado pelos alunos. Segundo eles, a falta de atitudes básicas, como o uso do pronome correto, são constantes na UFRJ e um maior conhecimento sobre questões de gênero, identidade e sexualidade faria a diferença no dia a dia.
“Uma pergunta simples do tipo ‘como você quer ser tratado, tratada ou tratade?’, ou ‘quais são os seus pronomes?’ já é o suficiente para a gente conseguir conviver numa sociedade mais inclusiva”, diz Joanne, completando que a divisão dos banheiros também traz desconforto para as pessoas trans.
Thárcilo lembra que o reconhecimento das interseccionalidades também é importante quando se trata de inclusão.
“Existem pessoas trans e indígenas, existem as pessoas trans e PCDs, por exemplo. Temos uma multiplicidade de coisas que nos atravessam.” Assim, “é fundamental que políticas de acesso e inclusão sejam pensadas para abranger todas estas ‘multiplicidades’ que o ambiente acadêmico reúne”, conclui.