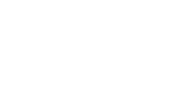Hoje o Brasil escreve uma das páginas mais tristes de sua história. O país acaba de alcançar a trágica marca de 500 mil vidas perdidas pela COVID-19, em pouco mais de quinze meses de pandemia. Por trás da frieza das estatísticas, é preciso lembrar a dimensão humana da tragédia – tantos sonhos sepultados em meio a enterros ininterruptos, sem adeus. Afinal, não estamos falando apenas de números, mas de vidas. Se fosse possível conhecer cada uma dessas pessoas, uma por dia, levaria 1.370 anos para ouvir a história de todas elas.
É importante esclarecer que os números são necessários. Eles fazem parte da discussão sobre a pandemia porque dão parâmetros sobre a velocidade com que a doença se espalha no mapa. Mas também carregam um efeito cada vez mais importante: o de calcular quantas vidas poderiam ter sido salvas – sobretudo em relação a uma doença para a qual já existe vacina. Pedro Hallal, pesquisador da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e coordenador da pesquisa Epicovid-19 – considerada pela comunidade científica brasileira um dos mapeamentos mais consistentes do avanço da epidemia no país –, aponta, em artigo publicado em janeiro de 2021 na revista Lancet, que 3 em cada 4 mortes poderiam ter sido evitadas caso o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia.
Apesar de responder por aproximadamente 2,7% da população mundial, atualmente o Brasil já representa mais de 12% das mortes pelo coronavírus no mundo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. De acordo com a previsão feita por Hallal, 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Não deveria ter sido assim.
A falta de familiaridade com os números impede que, em grande medida, seja possível processar a dimensão de 500 mil óbitos. Se, no início da pandemia, o país assistia, atônito, às mais de 800 mortes diárias na Itália, hoje, com mais de 2 mil óbitos por dia no Brasil, as estatísticas já não fazem mais efeito. Esta matéria, no entanto, é para lembrar o tamanho da maior tragédia sanitária da nossa história e homenagear a memória daqueles que se foram: pais, avós, irmãos, filhos, amigos, vizinhos, sobrinhos – pessoas que tinham sonhos, famílias, aspirações, mas que não puderam continuar a escrever suas histórias.
O que nos trouxe até aqui?
A primeira morte causada pela COVID-19 registrada no Brasil foi em 12 de março de 2020, segundo informações do Ministério da Saúde. A ciência fez sua parte: recomendou medidas como distanciamento social – com a prática de lockdown, quando necessário –, uso de máscaras e higienização das mãos, além de apontar a necessidade de amplo apoio do Estado na manutenção dos empregos daqueles que não poderiam ficar em casa. Em tempo recorde, desenvolveu uma série de vacinas seguras. Em mais de um ano de pandemia, já sabemos como conter a doença ou, pelo menos, minimizar seus efeitos. Então por que não controlamos sua disseminação?
Chrystina Barros, pesquisadora do Centro de Estudos em Gestão de Serviços de Saúde (Coppead/UFRJ), destaca que essas medidas para conter o vírus não são novidade nem para o Brasil nem para o mundo. Evitar que a crise sanitária se agrave – gerando não só mais perdas, como também o caos do sistema público de saúde – é, necessariamente, colocar em prática as lições recomendadas pela ciência.
“O problema é que isso esbarra no comportamento e fundamentalmente no que está por trás dessa nossa situação: a posição que as nossas lideranças insistem em tomar e os conflitos que isso traz para uma sociedade cansada e exausta, que passa a discutir o vírus em tribunais e por medidas judiciais. O vírus não sabe ler placa de contramão, não recebe liminar e não se controla com isso.”

Juntava os netos em torno dela para contar histórias que ela mesma criava através de lindas e inesquecíveis cantigas. Fazia bolinho de feijão com farinha e dividia sua refeição com os seus. Tê-la por perto parecia um sonho bom.
Depoimento retirado do memorial Inumeráveis
Para a pesquisadora, há uma conjunção de diversos fatores que levaram o Brasil até a situação atual, a exemplo da logística não coordenada por parte do Ministério da Saúde – que, dirigido, em tese, por um grande especialista em logística, deixou vencerem kits para testagem e provocou grande celeuma durante a negociação de vacinas – e da falta de implementação de medidas científicas baseadas em valorização da vida, sobretudo por lideranças que negam a ciência e evocam a falsa simetria entre economia e saúde. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (Cepedisa) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) indica a atuação do governo federal em prol da ampla disseminação do vírus no território brasileiro, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível.
“E ainda assim existem pessoas que tentam desacreditar a doença, argumentar que o diagnóstico não é correto, que os números são questionáveis, que pessoas velhas morrem porque já morreriam, como se envelhecer fosse condenar uma pessoa à morte, quando na verdade envelhecer significa viver mais, poder aproveitar a vida e deve ser sinônimo de buscarmos dignidade”, completa Barros.
Não é normal morrer como se morre agora
A pandemia chegou ao Brasil e se instalou se alimentando de suas mazelas. Se hoje o país tem recorde no índice de desemprego, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, antes da pandemia, já eram 12,3 milhões de desempregados. Se hoje pessoas não têm condição digna para lavar as mãos, antes da COVID-19, 46% dos cidadãos brasileiros já não tinham esgoto, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Da mesma forma, e sobretudo no município do Rio de Janeiro, o que se observa hoje é reflexo de um sistema de saúde que já vem sendo desinvestido paulatinamente.
Chrystina Barros explica que é da natureza humana se acostumar, mesmo com uma realidade inesperada e difícil como é a pandemia da COVID-19, em que mortes se somam, dia após dia. Na filosofia, esse conceito já está estabelecido: a normose – naturalizar fatos ruins que fazem parte do dia a dia e logo passam a ser comuns. “Às vezes, por demandar um esforço para mudança que pode não estar ao alcance de todos ou não ser imediato, a normose serve como um consolo, e essas mazelas tornam-se invisíveis – como eram invisíveis”, explica.

Enfermeira e mãe de dois filhos, sempre falava que tudo iria ficar bem. Todas as noites ligava para a família pelo celular a fim de matar a saudade e dizer que logo, logo voltaria para dar o grande abraço que todos os dias prometia.
Depoimento retirado do memorial Inumeráveis
Quando é apresentado à sociedade um fator novo, como foi a pandemia, isso tira momentaneamente da normalidade. Dessa forma, se, em algum tempo, era impensável registrar cem, duzentos, quinhentos óbitos por dia, quando o país rompeu a barreira dos mil óbitos, viveu-se uma comoção. “E hoje nos acostumamos com mais 2 mil mortos. Mas isso não é normal. Não é normal termos, por dia, até mais 50% de óbitos do que tínhamos antes. Não é normal morrer como se morre agora!”, exclama.
Segundo a pesquisadora, essa banalização é traduzida no dia a dia a partir da frieza dos números, que já não impactam tanto porque, individualmente, muitos conseguem se alimentar, ter uma casa, ter um trabalho. Mesmo que as notícias mostrem diariamente nos meios de comunicação o agravamento da crise, tanto sanitária quanto econômica – como se houvesse uma separação entre elas –, é comum se deparar com imagens de aglomeração e de desrespeito ao distanciamento e ao uso de máscaras.
“Enquanto a dor não é sentida em nossa pele, somos gelados e nos sentimos invencíveis. Como já se passou um ano da pandemia e muita gente de fato sobreviveu – por que é uma doença que, na maioria dos casos, é benigna –, então nos utilizamos desse argumento para fechar os nossos olhos às nossas próprias fragilidades que não suportamos ver e banalizamos a dor do outro, esquecendo que comportamentos individuais impactam o coletivo e chegarão em nossa pele de alguma forma: ou pela dor de perdermos nossos amores ou por algum transtorno que vai nos afetar – e vai nos afetar”, finaliza.
Fadiga da compaixão
A compaixão também é um elemento importante para entender como o país chegou nessa triste marca. Paulo Vaz, professor da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ), explica que, segundo Aristóteles, esse conceito implica três juízos: o sofrimento tem que ser grave; o sofredor tem que ser inocente; e, para experimentar compaixão, é necessário imaginar que aquilo poderia acontecer com você. Os primeiros marcos importantes da crise sanitária da COVID-19 – como as mortes na China e na Europa, os corpos empilhados no Equador ou carregados por caminhões na Itália– eram um símbolo do perigo que se avizinhava. “Era muito fácil se colocar no terceiro juízo, de que aquilo poderia acontecer com você. De fato, estávamos todos morrendo de medo. Portanto, a compaixão se mesclava muito claramente com a experiência de estar temendo que a pandemia chegue.”

O professor viu-se obrigado a adaptar-se às mudanças. Agora, usaria um celular ou um computador para atender seus alunos. Não deu tempo. Internado, não conseguiu vencer a batalha.
Depoimento retirado do memorial Inumeráveis
E chegou da pior forma possível. Além da trágica marca de 500 mil vidas perdidas, para muitos, a pandemia se apresentou como a perda de entes queridos; para outros, que venceram a doença, há a indefinição sobre as sequelas, ainda desconhecidas; e ainda há aqueles para os quais a pandemia chegou na forma de fome e pobreza. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD) em parceria com o Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília (CPS/UnB) estima que 86% dos brasileiros perderam algum conhecido em decorrência da COVID-19.
“Na pandemia, quem não vai ser traumatizado? Porque ela é um evento global e coletivo. Eventualmente, todo mundo perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu, muita gente foi obrigada a trabalhar e correr risco. Como vai ser a distribuição entre quem ajuda e quem será ajudado?”
Trauma e solidariedade
Segundo Paulo Vaz, para a nossa cultura, catástrofe e trauma são duas faces de um acontecimento: o evento em si e o que restará de sofrimento a ser reconhecido no futuro. Ele destaca que a pandemia de COVID-19 é, por definição, catastrófica: um acontecimento trágico, com mortes e sofrimentos, mas que é limitado no tempo, no espaço e na destruição que provoca. Mas, além disso, é traumática e causa diferentes sofrimentos psíquicos que perdurarão.
“Qual a solidariedade que vai existir em relação a quem continua sofrendo? O ponto fundamental é esse: a catástrofe passa, mas o sofrimento não necessariamente. Por isso que o trauma vai existir como vocabulário – tanto para falar de uma realidade psíquica quanto para indicar um problema moral contemporâneo. Como fazer com que os indivíduos possam ser solidários com aqueles que não conseguiram retornar?”
O docente destaca que a pandemia coloca para a humanidade uma possibilidade inevitável de finitude. Ela é, portanto, uma catástrofe lenta e dolorosa. Diante da possibilidade da morte, impõe uma nova incerteza: não se sabe qual vai ser o estado futuro do mundo. “Não sabemos o que é o retorno ao normal, pois fica faltando o mundo a partir do qual nos projetávamos.”
Se antes os indivíduos tinham razões morais para seguir com a vida – o cuidado com os filhos, o emprego, a pátria, buscar conhecimento –, durante a pandemia, muitas vezes, houve uma suspensão desse propósito. “É uma sensação de pertencer a uma entidade maior que levava os indivíduos a aceitarem com mais facilidade esse sofrimento que perdura para além do evento trágico”, explica.
O que podemos ser a partir daqui?
Vaz afirma que uma das maiores radicalidades da pandemia é a revalorização da política, evidenciando sua importância para uma saída coletiva da crise sanitária e, também, para construir um mundo mais igualitário. O que o momento atual revela é que, para garantir um futuro individual, é necessário, também, proteger o outro. A pandemia mostra de maneira prática, nas ações diárias, essa realidade. O uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos são atos não apenas para proteção individual, mas também para evitar que o próximo se contamine e aumente essa cadeia de infecção. Esse cuidado com o outro beneficia também a nós mesmos.

Tinha um enorme coração. No começo da pandemia, não quis voltar para sua aldeia, por medo de perder aulas, mas assim que percebeu que não estavam levando o vírus a sério, foi até lá avisar sobre a gravidade da situação.
Depoimento retirado do memorial Inumeráveis
A sociedade, portanto, se acostumou a viver, nos últimos anos, em uma regra moral muito atrelada ao individualismo e egoísmo. A pandemia, de alguma maneira, mostra a necessidade de romper com essa estrutura. Para Chrystina Barros, é necessário rever o modo de vida da sociedade e o respeito ao outro a partir do próprio cuidado.
“Precisamos aprender a conviver com riscos biológicos, que sempre existiram. Essa pandemia fez a sociedade perceber que nós não somos invencíveis: a humanidade é muito arrogante e percebeu de uma maneira muito dura a realidade. Percebeu o quanto é frágil. Nós precisamos sair dessa pandemia com novos hábitos e comportamentos para uma vida mais consciente, mais saudável, mais humana”, opina a pesquisadora.
Além da questão política, a COVID-19 escancarou a necessidade imediata de um senso de justiça, que, presos à normose, muitas vezes acabamos por negligenciar. Os genocídios indígena e da população negra, por exemplo, nos lembram diariamente do abismo social e da impunidade no país, mas acontecem, dadas as proporções, de maneira mais lenta.
“Acabamos medindo injustiça por mortes, e, na pandemia, não se medem mortos daqui a 15 anos, mas daqui a 15 dias. Portanto, a gente foi capaz de discutir o justo com mais radicalidade. Talvez a gente perca a dimensão dessa abertura da questão política. A pandemia mostrou que ela é necessária”, conclui Paulo Vaz.
***
Desde o primeiro óbito no Brasil, confirmado em 12 de março de 2020, há, em média, uma morte decorrente de COVID-19 a cada 80 segundos. Isso significa que, enquanto você lia esta matéria, 8 brasileiros deixaram de continuar escrevendo a história de suas vidas – e que isso poderia ter sido evitado.