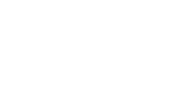Primeiro movimento – Compor casas
“Mas o que é voltar para casa? É mais que tudo uma postura ética diante do mundo”, disse-nos Fátima Lima, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em uma aula densa sobre Fanon na pós-graduação. Neste momento, quando paro brevemente para pensar e escrever a respeito das dimensões que a UFRJ teve e segue tomando na minha vida, a frase de Fátima ecoa fortemente. Se a construção de casas atravessa o sentido de constituição de campos garantidores de abrigo, segurança e nutrição, construir e habitar determinadas casas, quando ato pensado metaforicamente, compõe-se como movimento ético de afirmação e expansão da vida. Vida que se possibilita a partir dos caminhos que nos são dados para percorrer.
A UFRJ, como caminho de vida, me chega muito especificamente e já em fins de um trajeto formativo que prevê o doutorado como ápice da condição discente. Sendo pernambucana, tendo todo o meu trajeto formativo vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), eu tinha pavor de refazer, nas minhas próprias geopolíticas, os velhos mitos de migração para o Sudeste a partir da precariedade. Em definitivo, não se tratava disso, de modo que habitar o Sudeste nunca me tinha sido opção. Contudo, a possibilidade de existir na UFRJ entranha, sorrateira, por linhas de afeto absolutamente anteriores às geopolíticas. Estando como convidada em um evento de Psicologia no Paraguai, conheci o professor Pedro Paulo Bicalho, do Instituto de Psicologia (IP) da UFRJ, e, numa conversa despropositada em uma mesa de festividades e vinho, descobri nele afinidades teórico-epistemológicas e políticas muito caras para mim. Não tinha dúvidas de que com ele faria sentido dar prosseguimento à caminhada acadêmica. Ao saber de suas vinculações institucionais, a UFRJ apareceu como o espaço que ele próprio habitava. Num primeiro movimento de constituição a partir do afeto, a UFRJ, inteira e imensa em suas complexidades, tomou o rosto de uma única pessoa, que veio emprestar sentido em investir na seleção de doutorado do IP e, em seguida, ser meu orientador.
Passei, num primeiro momento, a habitar uma “pequena” UFRJ, mas, ainda que majoritariamente no IP, o que se apresentava era todo um microcosmos refletidor da grande instituição e delimitado pelo nosso grupo de pesquisa, pelo grupo de extensão e pelas atividades de estágio-docência junto à graduação. Começar a viver a Universidade já desde os seus três pilares foi dinâmica a compor um corpo-doutoranda e estar na instituição com inteirezas, tomando-a como também minha. Habitar uma casa com postura ética diante do mundo me convocou a perceber como o exercício cotidiano de transformar a UFRJ nessa casa foi forte constituição política, que me ressignifica modos de estar no mundo. Há um jogo duplo; presente e presença partem de um mesmo quadro no qual a nossa presença configura as temporalidades contemporâneas. Por vezes, é ineficaz pensar onde começam em nós ou no outro os campos de contágio, de modo que as reconfigurações do presente se fazem, muitas vezes, aos poucos, em movimentos sutis de um cotidiano que se renaturaliza. Sem perceber, já estamos habitando futuros que se produzem a partir desses pequenos rasgos. Acontecimentos tão pequenos que são quase imperceptíveis, como pensa Nikolas Rose, mas imprescindíveis na recomposição do presente.
Ao chegar à UFRJ, sem alarde sou informada de que era a primeira pessoa trans a se matricular no doutorado em Psicologia. E, perante os modos como me componho na vida, não ter sido essa uma questão propagandeada foi também exercício de acolhimento, o que me permitiu ser mais uma discente entre outras, embora os marcadores que me atravessam compareçam, sem muitos tabus, quando chego e nas questões que trago.
Mia Couto, escritor moçambicano, escreveu algumas coisas sobre casas, as físicas e aquelas que habitam em nós. Emprestar aos espaços o morno sentimento de casa é constituição do plano dos afetos e, como tal, é também ato profundamente político. Casa é ponto de partida que nos inaugura o/no mundo e terra desde a qual se iniciam todas as distâncias.

Segundo movimento – Compor mundos
Uma vez habitada, a UFRJ abre-se para nós como circuito múltiplo, com muitas possibilidades de configuração de redes. Ao mesmo tempo, comunidade nunca é algo dado, é sempre elemento cotidianamente construído. São vários os caminhos que podem nos produzir como comunidade dentro da instituição, e há aqui um duplo movimento a considerar: os efeitos de um “devir” comunidade produtora de pensamento numa instituição pública como a UFRJ sempre esborram para além dos muros e dos limites geográficos nos quais nos inserimos – além da própria UFRJ.
No primeiro semestre de 2019, numa disciplina de Cartografia oferecida anualmente no Programa de Pós-Graduação em Psicologia e facilitada por quatro docentes ao mesmo tempo, conheci Mariah Rafaela. Sua trajetória em parte aproximava-se da minha, em parte trazia marcas da diferença que nos faz ter caminhado por zonas distintas. Traço em comum − muito mais do que o pertencimento a uma “identidade” trans que fora dos manuais exotificantes nunca é universalizável −, fomos ambas, em momentos diferentes, orientadas pelo mesmo orientador: Pedro Paulo. Nosso encontro no contexto de uma disciplina de pós-graduação nos produziu questões alegres − numa alegria espinosana − e, ao fim do semestre, tínhamos uma inquietação compartilhada: como produzir elementos que nos ajudem a pensar como a cisgeneridade constitui a si mesma não como identidade, mas como regime de poder?
Essa questão, partilhada com nosso orientador, rapidamente tomou a forma de uma ementa de curso de extensão, a ser submetido no edital interno. “A melhor maneira de aprender sobre algo é ensinando isso”, esporadicamente Pedro falou em um dos encontros do grupo de pesquisa. E apostamos nisso. Uma vez aprovado em edital, o curso, intitulado Sociedade, Cisgeneridade, Governamenta(bi)lidade, ocorreu semanalmente e em formato de disciplina durante todo o segundo semestre letivo de 2019, numa sala no IP.
Hoje, passado um ano dessa experiência, já a considero como um desses pequenos eventos que, como Nikolas Rose lembra, nem chegam a ser um acontecimento, tão rapidamente se convertem em cotidiano, mas que abrem rasgos a partir dos quais as coisas não serão exatamente as mesmas novamente. Sendo um curso de extensão, as inscrições eram abertas para além do vínculo institucional, e, diante da grande procura, ampliamos a possibilidade de acesso a alunos ouvintes. Todas as quintas, o IP era então habitado por um conjunto de pessoas diversas, incluindo muitas trans, num cenário interdisciplinar que punha em diálogo gente vinda dos mais variados campos de formação, acadêmicos ou não. Ouvindo nosso chamado, dispuseram-se a pensar coletivamente não mais sobre pessoas trans (constantemente objetificadas como o eterno outro – curiosidade exótica e distante), mas sobre os próprios limiares de manutenção da norma, atentando para como os traços interseccionais complexificam a discussão de quem cabe ou não nos estreitos limites do humano.
Para monitor, convidamos Thárcilo Ipá, estudante de graduação em Psicologia; ele próprio um homem trans. Nosso pequeno acontecimento tomou a forma-imagem de três pessoas trans facilitando, por um semestre inteiro, um curso sobre cisgeneridade. A inversão decolonial posta em prática aqui é elemento, arrisco dizer, ainda não visto as poucas pessoas trans que no Brasil ocupam as instituições de ensino e as raras instituições de ensino que nos reconhecem como pares e membros da comunidade acadêmica. Inauguramos algo novo, arrisco pensar.
Ainda hoje, um ano depois das atividades do curso, recebemos inúmeros retornos das pessoas que compuseram a atividade inteira, das que nos encontraram pontualmente ou mesmo daquelas que, morando em outros estados, não conseguiram estar conosco presencialmente, apesar do desejo de acompanhar nossas construções coletivas. Uma fala se faz eco entre quase todas elas: “Foi um espaço de produção e amplificação de vida”.

Terceiro movimento – A cicatriz na pele do futuro
Memória é elemento fundamental na constituição de futuros, ensina Achille Mbembe. Essa é uma pista muito importante nas resistências dos movimentos negros desde que este país foi inventado pela violência branca. É também uma pista que nós, pessoas trans, a muito custo, começamos a valorizar, que faz as primeiras de nós começarem a poder furar as curvas das duras estatísticas, acessando alguns espaços poucos antes impensáveis.
Nosso presente é sempre efeito de um conjunto de linhas emaranhadas e disputas, as grandes e as cotidianas. Algumas instituições inscrevem-se nessas camadas, de modo que a possibilidade de fazer parte delas como casa também nossa, num país que todos os dias nos lembra de que a expectativa de vida de alguém como nós é de 35 anos, fala da invenção de vida à medida que fala da criação de futuros. Ficção pode ser palavra aqui evocada. E toda ficção, enquanto exercício de imaginação de mundos outros, é profundamente política, lembra Jota Mombaça. Nossos cotidianos são, quando postos em perspectiva, a ficção impossível dos que nos antecederam. Ficção que nos inaugura no mundo quando se converte em aposta. Apostar que a diferença pode ser importante agente na produção de conhecimento é efeito que antevê realidades absolutamente distintas daquelas colocadas como inescapáveis. Apostar que outras corporalidades, outras histórias, outros territórios possam compor o grande quadro de pessoas que empresta carne a uma grande instituição como a UFRJ é apostar nessa instituição como possível fundamento na ruptura dos engessamentos da sociedade e na inauguração do que há por vir.
Ambiguamente, toda essa construção pede que, para que se caminhe mantendo os pés no chão, não esqueçamos as feridas que nos inauguram como povo, que nos produzem como comunidade subalternizada antes mesmo de podermos compor a comunidade acadêmica. Mas feridas não são destinos, são pontos de partida. São lembretes cotidianos de quais relações precisam deixar de existir para que a vida seja o elemento potencializado. Estancar e cicatrizar uma ferida muito profunda é a nossa atual ficção política mais urgente. E, entre as várias conjurações de unguentos, geração após geração, seguimos tentando ser universidade, fazer dela uma casa. Acessar de dentro suas ferramentas conceituais, institucionais e políticas é ficção de algum início de cura em toda uma comunidade. Lohana Berkins, importante ativista travesti argentina falecida em 2014, sempre dizia que, “quando uma pessoa trans entra na universidade, a vida dela é modificada. Quando muitas pessoas trans entram na universidade, a sociedade é que é modificada”.
Na continuidade das pessoas que nos antecederam, que possamos seguir exercitando imaginações políticas sobre mundos um pouco mais possíveis! E que a UFRJ possa seguir sendo essa casa-ponte ficcional que, já cotidianamente também nossa, nos empresta ferramentas indispensáveis à construção ativa de futuros.

*Céu Cavalcanti é psicóloga e mestra em Psicologia pela UFPE. Atualmente cursa o doutorado em Psicologia na UFRJ como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Nota da edição: Este artigo é parte do Especial UFRJ 100 Anos, publicado em setembro pelo Setor de Comunicação da Decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (Secom/CFCH) da UFRJ. Em seus textos, servidores docentes e técnico-administrativos, discentes e trabalhadores terceirizados produziram reflexão sobre a Universidade no ano em que ela completou um século de existência. A proposta foi apresentar visões, experiências e saberes de quem contribui para que a UFRJ mantenha a sua excelência, produza conhecimento plural, diverso e democrático, apesar de todos os desafios impostos.