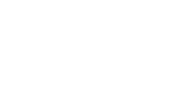Por Paulo Vaz*
Passados cerca de cinco meses do surgimento dos primeiros casos na China, já há alguma clareza sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus. Sua capacidade de contágio muito forte provoca um crescimento exponencial no número de doentes e, em proporção bem menor, de mortes. Também se sabe que a letalidade e o contágio não são equitativamente distribuídos segundo as faixas etárias. Nos Estados Unidos, até meados de março, as pessoas com mais de 65 anos correspondiam a 31% dos infectados, embora representassem 80% das mortes. Os casos da China mostraram uma distribuição parecida. Curiosamente, os homens tendem mais a morrer do que as mulheres – o percentual no total de mortes parece variar entre 60 e 70.
Cabe agora delinear algumas questões e transformações éticas e políticas trazidas pela pandemia. Um caminho é pensar as formas de temporalidade que ela suscita.
Proximidade da morte
A primeira forma de temporalidade trazida pela pandemia é a proximidade da possibilidade de morrer. Pela velocidade de contágio e letalidade do vírus, irrompe na mente de muitos a certeza de nossa vulnerabilidade e interdependência. A transmissão assintomática e o intervalo relativamente longo entre o contato e a manifestação dos sintomas implicam que cada indivíduo pode, sem saber, já estar doente e ter transmitido a doença. Assim, arrisca a própria vida e a de outros na sombria loteria sorteada entre o contágio e a morte.
Compõe a vulnerabilidade saber que as ações individuais não produzem resultado. Trata-se de uma epidemia em “solo virgem”. Não há imunidade; não adianta ser rico, poderoso, ter conhecimento ou dispor de sistema imunitário vigoroso por ser saudável. Já vimos príncipes, políticos, milionários, artistas, médicos e atletas contraírem o vírus. Quanto à chance de não morrer, pelo que até agora sabemos, o que mais parece efetivo é a mera sorte: a sorte da idade ou do gênero quando se contrai e mesmo a loteria genética que lega doenças que compõem a virulência do ataque. Acaso, e não o controle individual. Portanto, destino coletivo.
Uma dimensão adicional dessa temporalidade de irrupção da finitude é a introdução da velocidade em nossas antecipações de sofrimento. Como se a epidemia tornasse palpável a forma de futuro da ecologia: o destino coletivo na forma da catástrofe socialmente construída no presente. A simulação na ecologia antecipa a catástrofe daqui a anos ou décadas. A COVID-19 indica a possibilidade de uma morte próxima, em dias, para vários se continuarmos em nossas rotinas, com a plausibilidade da simulação sustentada diariamente pelos meios de comunicação e seus dados sobre o crescimento exponencial do número de casos e de mortes. Inevitavelmente, pensamos na possibilidade de nos tornarmos estatísticas.
A aceleração e a iminência fazem a diferença, pois trazem urgência à discussão social sobre o justo. As consequências das ações individuais sobre as possibilidades de vida dos outros não se tornam invisíveis por se desdobrarem em anos. Adicionalmente, a própria métrica do justo se concretiza e se simplifica ao tornar-se a capacidade de viver, mesmo que por mais alguns dias ou meses. Nossos jornais, TVs e sites estão repletos de denúncias sobre a violência perpetrada pelos que saem de casa sabendo-se doentes, sobre a imoralidade de estocar medicamentos e alimentos e especular com ventiladores pulmonares ou, ainda, sobre o privilégio dos ricos e famosos na testagem e tratamento. Sabemos imediatamente que a probabilidade de cada um morrer é ampliada pelo comportamento injusto do outro.
Essa temporalidade tem mais uma característica: a forma de presença mental das antecipações da morte. Em certo sentido, a pandemia traz de volta para nossas mentes o que caracterizou a experiência humana da morte até o final da Segunda Guerra Mundial: a proximidade inarredável da possibilidade de morrer. Transforma, então, o que se constituiu desde os anos 80 e 90 do século passado como experiência atual da morte. Com a ascensão do conceito de fator de risco, correlata ao aumento da expectativa de vida e ao predomínio das doenças crônicas como causa da morte, tornou-se comum crer que a morte poderia estar a distância e que o distanciamento dependeria do mérito: se o indivíduo, no seu estilo de vida, considerasse os riscos de adoecer que o caracterizariam, só morreria já idoso, quiçá depois dos 90 ou 100 anos. Sabíamos que somos mortais. Esse saber, porém, permanecia num canto pouco visitado de nossa consciência, especialmente se nos dedicássemos cotidianamente a ser saudáveis.
Essa crença na relação entre mérito e saúde é desfeita pela pandemia e corrói, dessa forma, um pilar básico da crença ora hegemônica em nossa cultura de que o futuro individual, isto é, a trajetória de vida de cada um antes de morrer, depende de seu mérito. A ameaça fortuita declinada em dias faz ver que o longo prazo individual não depende só de nossos comportamentos. Além da possibilidade de o nosso longo prazo não existir, pois a epidemia pode ter nos sorteado para morrer, descobrimos que a existência de futuro individual depende de ações coletivas intencionais que se endereçam ao bem comum.
Resposta à pandemia
Chegamos assim à segunda forma de temporalidade, que é a suspensão, determinada pela resposta majoritariamente adotada pelos países à epidemia: o isolamento social. Essa resposta define claramente um tipo de tempo coletivo, dado pela ideia de sofrimento evitável: parte significativa das mortes acontece por insuficiência de tratamento, que resulta da sobrecarga dos hospitais diante do influxo muito rápido de doentes requerendo internação. Logo, se reduzirmos a velocidade do contágio, reduziremos o número de mortos causado pela epidemia. Mas essa medida significa o retorno de uma intervenção do Estado na economia e na vida dos indivíduos que pensávamos impossível desde os anos 80 do século passado, pois paralisa diversas atividades econômicas e força as pessoas a permanecerem fechadas em suas casas.
Já em termos subjetivos, essa temporalidade significa imediatamente a paralisação ou destruição de rotina e planos, que, sabemos, se desdobram por anos. Contudo, a espacialidade da medida determina outras formas subjetivas de tempo. Há a dimensão da angústia e do cuidado pela inevitável porosidade das casas. Tudo o que está próximo ou vem da rua ameaça. Além de evitar a proximidade com quem não pertence a casa e de raramente sair à rua, cabe se inquietar com a possibilidade de o vírus chegar ou já estar em maçanetas, alimentos, embalagens, cabelo, barba, sapato, celular, cartão de crédito, animais domésticos, etc. Gestos e objetos cotidianos ganham uma dimensão fantasmagórica, sustentando a ansiedade recorrente com a proximidade da possibilidade de morrer, mesmo isolado.
Outra dimensão temporal subjetiva da quase-quarentena é o tédio. Amigos e colegas partilham relatos, piadas e memes com pessoas desorientadas pela falta do que fazer ou irritadas com a proximidade forçada de parceiros e familiares. O tédio faz do tempo da suspensão uma constante interrogação sobre o para quê de nossas ações.
A temporalidade da suspensão tem outras dimensões, dada a longa duração do distanciamento. Achatar a curva não dura semanas, e sim meses. De um lado, cresce a sensação de aprisionamento e da impossibilidade de, simplesmente, viver. Do outro, surgem as sensações de pesadelo que se agravam e do qual não se acorda ou a impressão de um cerco que se fecha: o isolamento dura, mas o contágio insiste em aumentar doentes e mortos, agora atingindo conhecidos ou próximos. A suspensão da rotina e dos planos parece então ter como término a morte. Como se cada casa fosse um navio de cruzeiro infestado pelo vírus e proibido de atracar.
Quanto mais tempo dura a medida, maiores são seus custos econômicos. E aí outras antecipações catastróficas vêm compor o espaço mental dos indivíduos. Não são somente os doentes e mortos que aumentam exponencialmente; também os desempregados e precários que não encontram alternativas para ganhar dinheiro. O desespero provoca o sonho do retorno à normalidade, tão mais insistente quanto mais os governantes são incapazes de propor medidas que distribuam com justiça os custos econômicos do distanciamento social.

O autor. Foto: Reprodução do site www.somos1so.com.br
Retorno à normalidade
A antecipação do retorno à normalidade é, de fato, a terceira forma de temporalidade, que é o tempo do desejo. Mas não haverá retorno ao passado. O distanciamento social limita-se a afetar a capacidade de tratar os que adoecem. O vírus continuará aí até a descoberta de vacina ou o adoecimento da maioria da população. Um horizonte de futuro, portanto, faz do fim da suspensão a sua recorrência. As pessoas voltam a trabalhar, o contágio retorna e também a quarentena e a paralisação da atividade econômica.
De todo modo, o distanciamento não poderá durar muitos meses, em virtude de seu enorme custo social. A reconstrução de uma nova normalidade dependerá de se constituir um novo limiar de risco aceitável, o que implica dar algum controle ao indivíduo sobre sua possibilidade de adoecer quando estiver na rua, trabalhando ou aproveitando a vida. Por enquanto, não há nenhum. Querer forçar o indivíduo a voltar a trabalhar, substituindo o distanciamento pelo isolamento de grupos vulneráveis, seria o mesmo que obrigar o retorno dos moradores ao entorno de Chernobyl após saberem da contaminação da usina pela radioatividade. Diante de uma distribuição tão desigual de riscos, alguns podem aceitar arriscar o adoecimento pelo desespero da sobrevivência. Já outros podem escolher estratégias ilegais de sobrevivência, como roubos e saques.
A construção de um novo limiar de risco aceitável pela maioria dos indivíduos vai demandar tempo para haver o avanço do conhecimento médico sobre as formas de transmissão pelo vírus. Senão, continuaremos a fantasiar o risco em tudo e todos. Talvez seja necessária a construção de perfis de risco instantâneos pelos deslocamentos na cidade, como já é feito em alguns países. Certamente, serão necessárias a disponibilidade generalizada de testes, de objetos que evitem o contato e a maior segurança na qualidade do tratamento pela disponibilidade de leitos e ventiladores pulmonares.
O que se descobre ao discutir essas formas de tempo é a interdependência de nossa vulnerabilidade, condição contemporânea da nossa finitude, que foi revelada pela pandemia. Somos vulneráveis e expomos uns aos outros à vulnerabilidade. A construção de um longo prazo, antes e depois de nossas mortes, depende do resgate da crença na construção coletiva intencional do futuro. Sem essa crença, só parece restar o conflito generalizado entre indivíduos e entre coletividades, provocado pelo desespero de sobreviver. Como descreve Giovanni Boccaccio, a reação à peste já foi o abandono de pais, filhos, maridos, esposas e amigos – sem falar na violência contra presumidos causadores.
*Paulo Vaz é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e pesquisador 1-A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).