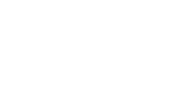Fotos: Ana Marina Coutinho (Coordcom/UFRJ)
Para o educador, escritor e ambientalista de origem tapuia Kaká Werá, permitir a diversidade é reconhecer que em tudo há vida. E que, justamente, quando os mais diferentes modos de vida se encontram é que há evolução e aperfeiçoamento. “Sem pluralidade de culturas não existe vida: é isso o que a terra nos ensina. Se você observar em qualquer ecossistema, verá uma diversidade, e não somente uma espécie. Onde há diversidade, há vida. E onde não há diversidade, há degeneração, ignorância”, afirmou.
Seu nome de batismo é Carlos. Nascido em São Paulo, é filho de indígenas desaldeados que migraram do norte de Minas Gerais para trabalhar na roça. O pai era de origem kaitité e a mãe, kaxixó. Tapuia foi a denominação genérica que muitas etnias adquiriram, inclusive as de sua família. Entretanto, pelo tronco linguístico, há estudos que associam seus ancestrais aos kaiapó. Em sua juventude, foi vizinho de uma aldeia guarani situada na zona sul da capital paulista. Ao vivenciar a luta por sobrevivência no território e aprender a cultura de seus parentes, foi batizado como Werá Jecupé. Esta palavra, em tupi-guarani, significa “guardião”. Aquela quer dizer “o clarão do raio”. Kaká Werá é alguém que defende a luz.
Werá acompanhou a formação da União das Nações Indígenas (UNI), trabalhou ao lado de Paulo Freire e Marilena Chauí e dedica a vida à educação e ao empoderamento econômico de diversas etnias. Ele esteve na UFRJ para ministrar a aula inaugural no Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena (PPGAC). Sua palestra, intitulada Raízes Expostas: Ecos do Coração da Terra, abriu também o evento A Cena Expandida: Descolonização, realizado pelo PPGAC nos dias 15, 16 e 17/4, no campus Praia Vermelha.
Morte e vida
Em seu pronunciamento, Werá relembrou como os povos originários foram estigmatizados, expropriados e mortos no curso dos últimos cinco séculos – e como, em 2019, não estão livres dessa violência. “Muito massacre, dor, sofrimento: é isso o que marca a história. É o nascimento do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador. Cada cidade grande deste país tem em seu bojo, no seu centro, uma memória escondida de muito sangue derramado”, retomou.
O modo como os povos originários foram nominados pela cultura da colonização, a seu ver, é marcador do processo histórico. “Negros da terra”, “gentios”, “bugres”, “índios”, “incapazes”, “relativamente capazes”: cada termo desses representou um período da formação do Brasil e consolidou, em termos ideológicos, uma “permissão” para eliminar, retirar a humanidade, dominar a terra e a sociobiodiversidade. “Até hoje, na lei brasileira, somos chamados de relativamente capazes. Vocês têm noção do que significa isso?”, indagou ao público.
As consequências de uma política de extermínio e aculturação, falando-se em linhas gerais, foram desde a extinção de sociedades inteiras até o apagamento da memória coletiva e a condição de miséria dos sobreviventes. Atualmente, há 374 etnias lutando pela vida, que passa pela defesa de seus territórios, pelo direito à cidadania e pelo resgate de sua sabedoria ancestral. “Nesse momento, todos os remanescentes, mais uma vez, estão diante de uma luta que parece inglória. Luta contra os capitães do mato, da mediocridade, da debilidade mental”, constatou. Entre 24 e 26/4, povos de diversos lugares estiveram em Brasília para reivindicar seus direitos, realizando a 15ª edição do Acampamento Terra Livre.

Momento de dançar o toré na universidade
Descolonizar
Diante da efígie da Minerva, posicionada ao centro do Salão Pedro Calmon, Werá questionou em sua aula as noções de progresso e desenvolvimento vigentes na sociedade ocidental, fez uma análise crítica do papel das ciências e propôs aos acadêmicos a descolonização, em primeiro lugar, do pensamento. “Muitos aqui sabem que nós lutamos pela demarcação de nossos territórios, mas é importante saberem que os territórios mais degradados não foram os materiais, mas sim os territórios das culturas e das almas. No meu entendimento, essa geração precisa, cada vez mais, saber da importância que é o respeito e a manutenção de uma cultura, de uma alma, da diversidade, de todos aqueles diferentes de si”, defendeu.
Para efetivar a desconstrução, Werá propôs uma dança, o toré do arco-íris, feita por um parente da etnia kariri-xocó, de Alagoas, que celebra a união do céu com a terra. “Quando fazemos uma roda e cantamos um toré, ainda mais esse canto que propõe união, unidade, respeito, acreditamos que esses valores são ancorados no espaço. Há um peso simbólico e espiritual nisso”, finalizou, reproduzindo em seus passos as batidas do coração.