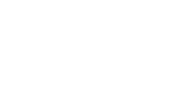O Refugee Olympic Team caminhou pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos na abertura no Maracanã recebendo aplausos. A mensagem visada, como notado em alguns meios de comunicação, era de “solidariedade” e “esperança” a atletas que não podiam representar os seus países de origem.
A iniciativa é admirável por abrir oportunidades na competição a sujeitos com histórias variadas e dar visibilidade à temática, sempre importante quando atitudes ao estilo do candidato americano Donald Trump fazem parte da conjuntura.
Mas o que aparentemente poderia provocar estranheza, um evento todo construído por rituais de estado-nação abrir espaço a uma delegação que representa o não-nacional, os sem bandeiras e “roupas típicas”, motivou ovações. Talvez devêssemos nos perguntar neste momento por que o discurso do refúgio é tão bem incorporado a uma “festa dos países”.

Convenção de Genebra incorporou definição de “refugiado”
O termo “refúgio” tem um significado jurídico bem mais restrito que na linguagem coloquial. Trata-se de um enquadramento legal referente a pessoas que saíram dos seus países de origem por conta de um fundado temor de perseguição por motivos raciais, étnicos, políticos, de nacionalidade ou pertencimento a um grupo social particular.
Quando essa definição foi registrada e se tornou um instrumento legal, através da Convenção de Genebra de 1951, o contexto era do pós-II Guerra Mundial. Nesse sentido, um documento internacional para responder à crise de refugiados da época era urgente. Acontece que também era outro o cenário europeu de meados do século, países acabados cujas soluções para suas reconstruções foram incentivar a migração de africanos das ex-colônias.
Mas o que era, a princípio, para ser uma migração temporária, tornou-se cada vez mais permanente, com as renovações dos contratos de trabalho, com as idas das mulheres e crianças ou a formação de novas famílias. Foi nas décadas seguintes que um horizonte do “partir” para buscar a vida em outros espaços se fortaleceu nas diferentes sociedades que outrora lutavam pelas suas emancipações.
Muitas águas rolaram até o século XXI, e não é o propósito aqui recuperá-las. Só que nesse meio tempo a ideia de uma “crise de refugiados” passou a se sobrepor a questões bem distintas daquelas da década de 1950. Do que, afinal, estamos falando, ou melhor, deixando de falar?
Migração cede lugar a refúgio
À medida que são empreendidas políticas governamentais para o aumento das detenções, deportações e do aparato de controle nas fronteiras (o muro entre Estados Unidos e México é um exemplo disso), torna-se mais difícil migrar. Recorre-se cada vez mais à solicitação de refúgio como meio de ingresso num país e cria-se, como consequência, todo um processo de distinguir quem são de fato os “verdadeiros refugiados”.
Na França, e provavelmente em outros lugares, produz-se uma busca da verdade através de certificados médicos e psicológicos do estado físico (as sequelas de tortura) e mental do solicitante. Na Inglaterra, há os experts testimony, pesquisadores acadêmicos contratados para fazer pareceres com suas opiniões, embasadas nos seus conhecimentos prévios da situação do país do solicitante, que são usadas para a determinação do estatuto.
O refúgio no Brasil não engloba iniciativas deste tipo. Fundamenta-se apenas na narrativa do solicitante em entrevistas com o funcionário do Comitê Nacional para Refugiados (Conare) e em pareceres de advogados de duas organizações vinculadas à Igreja Católica, à Cáritas e ao Instituto de Migração e Direitos Humanos (IMDH). Mas o nosso país não deixa de ser um caso interessante para refletirmos sobre o refúgio nos dias atuais.
Pedidos de refúgio no Brasil explodem nos últimos cinco anos
Em abril de 2016, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informou que havia 8.863 pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil. O Estatuto para Refugiados (Lei nº 9474/97) é considerado internacionalmente pelos avanços legais que engendra, permitindo a qualquer estrangeiro situado no território brasileiro solicitar refúgio.
Este Estatuto funciona lado a lado com outro, o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6815/80), que data do período da ditadura militar, é pautado numa lógica de segurança nacional e praticamente não oferece caminhos legais para estrangeiros em geral migrarem ou se regularizarem no país. Ele está tão desatualizado com as dinâmicas atuais que o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) promulga constantemente Resoluções Normativas para preencher as suas lacunas.
Quando se tem dois estatutos em descompasso – um avançado e outro ultrapassado, porém seguindo ativo –, o efeito mais imediato é a solicitação de refúgio, e a busca para ser reconhecido como refugiado se torna o único mecanismo de ingresso e possível regularização de pessoas migrantes.
De 2010 pra cá, as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2.868% (passando de 966 em 2010 para 28.670 em 2015); entretanto, o número de reconhecidos como refugiados aumentou apenas 127%. Mantém-se baixo se comparado a países europeus, alguns países da África e da Ásia, mas é elevado se observarmos as estatísticas na América do Sul.
No Brasil e no mundo, por atender a uma minoria numa multidão que pede para ser atendida, o refúgio aparece menos enquanto um direito e mais como uma concessão dos Estados. Ele acaba reforçando que as vidas e histórias das pessoas possam ser enquadradas em certas categorias e devam ser hierarquizadas de acordo com a necessidade de proteção. O problema é que fica de fora uma série de sujeitos, cujos atos de migrar podem tirar suas vidas, como nos mostram os naufrágios no mediterrâneo, mas também faz com que se construam vidas nos novos destinos.
Um paradigma ardiloso
Certamente, como várias vezes me lembraram colegas acadêmicos, o problema não é o instituto do refúgio, é a falta de outros mecanismos de ingresso e regularização. E sabemos que esses outros mecanismos fazem a diferença, como foram as normativas criadas para haitianos e para sírios no Brasil. Não estou aqui questionando o instrumento do refúgio em si, mas atentando para este aparente “em si”.
O refúgio é um aparato de Estado e a maneira como é operado não está problematizando um mundo de fronteiras, as disparidades dos países, a colonização, as guerras, eventos ambientais, ou seja, os motivos das partidas.
Ele é pensado e apresentado na chave da solidariedade e comoção, numa linguagem que individualiza a questão para o sujeito migrante e a coletiviza para um público distanciado. Só que, nessa lógica, a resposta possível é reforçar o poder dos Estados de definir quem está apto a receber a sua suposta proteção.

É assim que uma delegação de refugiados casa tão bem com uma festa das nações: porque ela oferece mais um sentido para o desfile de abertura. Aparentemente seria de se surpreender que, logo num país com poucos refugiados, em que não se tem uma lei de migração voltada aos direitos humanos, onde se discute a flexibilização da CLT, que afetará diretamente os trabalhadores migrantes, seja criada pela primeira vez na história dos jogos uma delegação de refugiados.
Mas antes do que parecer fora de lugar, o feito é a cereja do bolo, um paradigma ardiloso. Se a linguagem do refúgio parece a única palatável num mundo de fronteiras, precisamos discutir o que estamos deixando de falar.
*Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ). Atualmente, é doutoranda em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ.