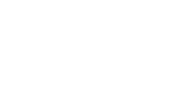Novembro. É chegada a época do ano em que as temáticas raciais são pautas em diversos lugares, em diferentes contextos. Escravização, preconceito, racismo, racismo estrutural, a situação do negro na sociedade e na economia são temas frequentes em diversos setores, como mídia e eventos culturais. Todos eles, indiscutivelmente, têm seus devidos valores. Neste Novembro Negro, o Conexão UFRJ propõe a você, leitor, uma reflexão sobre as relações raciais, principalmente as brasileiras, sob um outro olhar. O da branquitude.
Antes mesmo de pensarmos em discutir a branquitude, precisamos nos situar em relação ao que é reconhecido como raça. Atualmente, é dado que raça é um conceito social, não biológico. A ideia de raça ganhou força no Brasil no período pós-colonial, momento histórico em que, na teoria, os ex-escravizados poderiam passar a ser reconhecidos como cidadãos. O sistema de escravização era sustentado pelo direito à propriedade, não necessariamente apenas pela distinção racial. Dessa forma, é importante localizarmos o conceito em momentos históricos, já que a maneira com que ele é percebido, o que ele significa e carrega foi se alterando de acordo com o contexto. Com o fim do sistema, era necessário existirem argumentos que assegurassem que os lugares sociais continuariam os mesmos.
Bebendo na fonte do que era disseminado na Europa e nos Estados Unidos da América, as teorias raciais chegaram ao Brasil no início do século XIX. Elas enfatizavam haver diferenças entre negros e brancos, determinavam inferioridades e instituíam a hierarquização, dessa vez baseada exclusivamente na raça. Tudo isso era afirmado por meio de uma pseudociência. De uma maneira geral, essas teorias indicavam que as diferenças biológicas entre negros e brancos faziam dos negros um grupo inferior e menos capaz. Os negros passaram, então, a ser objetos de estudo.
Com o tempo e com muita luta do movimento negro, o conceito de raça foi ressignificado e passou a ser entendido sob uma perspectiva social. Como tal, a raça passa a ser um invenção social, uma disputa de narrativas, mas segue sendo utilizada como um fator de hierarquização e segregação de oportunidades. Como um conceito inventado, serviu para que um grupo que já estava no poder pudesse continuar a ser visto como a regra, como a hegemonia. A raça nada mais é do que a forma como uma pessoa é vista, sempre pelo olhar do outro. Em sociedades marcadas pela segregação racial, quem “vê”, portanto, é o ser branco. Dessa forma, quem tinha raça era o negro e o indígena, não o branco. O branco era o neutro, tido como “normal”, e passou a ser a visão dessa representação. Chegamos à branquitude.
Formas de viver que não são vistas como tal
Para Fernanda Carrera, doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professora da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, “branquitude, de uma forma geral, é um conceito para se entender modos estruturais de pensar, de se comportar e de se relacionar dentro de uma determinada estrutura sociocultural, relacionado a e acessado por pessoas brancas”. Dessa maneira, pensar sobre a branquitude é buscar entender o sujeito branco como indivíduo racializado, entendendo suas experiências de vida dentro de um grupo racial, ao qual ele pertence. É entender os privilégios que o indivíduo carrega por fazer parte de um grupo racial hegemônico, entendendo hegemonia não como uma questão de maioria numérica, já que esse não é o caso da sociedade brasileira, mas em termos de poder político, econômico e cultural, principalmente. Assim, é importante localizar o indivíduo branco dentro de sua branquitude, pois só a partir desse exercício seremos capazes de afastar a concepção de neutralidade e a normatização que revestem o ser branco no Brasil.
Entendendo a raça como um conceito que, além de social, é territorializado, faz-se necessário e urgente pensarmos também sobre a branquitude brasileira, em um país miscigenado como o nosso. Por aqui, a miscigenação compulsória marcou o período colonial — a miscigenação foi, principalmente fruto de relações sexuais forçadas entre escravizadas e seus senhores. No período pós-colonial, a miscigenação foi vista como uma maneira de eliminar a raça negra. Estudiosos e simpatizantes de teorias raciais como a eugenia acreditavam que a população negra desapareceria naturalmente com o passar dos anos, tornando o Brasil um país cada vez mais branco. Mas a teoria não se confirmou: atualmente, segundo o Censo 2022 IBGE, a população brasileira é composta por 55,5% de negros, 43,5% de brancos, 0,6% de indígenas e 0,4% de amarelos. Mesmo assim, o ideal do branqueamento segue presente na nossa realidade.
Carrera afirma que pensar na branquitude brasileira, a partir do demarcador da territorialização, é fundamental: “A branquitude brasileira é um ótimo caso de estudo, porque a gente tem uma lógica e uma questão racial construída historicamente aqui no Brasil. E o Brasil é o território mais emblemático para a gente perceber essas contradições, porque a gente viveu historicamente um processo de embranquecimento. Essa branquitude virou uma solução para o problema racial quando se deparou com a quantidade de pessoas negras do país. Então a branquitude brasileira é muito interessante pois ela é uma branquitude que não se vê dentro desse lugar de privilégio, está sempre olhando para o Norte Global, para outros territórios e dizendo: “Como que eu posso ser branco se lá eu não sou?”.
Os meios de comunicação e o papel normatizador
Se a raça é uma maneira de hierarquizar pessoas, existe um topo nessa hierarquização, que é ocupado pela raça branca. O que a naturalização da branquitude faz é permitir que não se perceba essa pirâmide, fazendo dela uma organização natural da sociedade. Essa naturalização é realizada de maneira muito tênue, quase imperceptível. Algumas instituições ajudam a manter esse imaginário, entre elas, os meios de comunicação. Para Carrera, os meios de comunicação, de maneira geral, contribuem para a narrativa da neutralidade branca. De acordo com a pesquisadora, pensar em comunicação é sempre pensar em representação, já que estamos falando sobre ícones e práticas, e tudo isso significa falar sobre raça, não há como haver uma separação nessa representação. Nesse sentido, “essa ideia de neutralidade branca (se dá) porque o branco é o universal. Então, a pessoa negra olha e acha que aquilo é a figura ideal do ser humano, do que é o ser humano. E, a partir daí, é o resto que precisa se adaptar a essa figura”, afirma. A professora também destacou que a situação atual dos meios de comunicação brasileiros é diferente se comparada com outras épocas, como no início dos anos 2000, mas ainda há muito o que avançar.
A branquitude é, portanto, uma maneira de continuar o racismo, que precisa de mecanismos que continuamente o atualizem como sistema. Por ela, outras invenções discursivas continuam se mantendo, como a meritocracia. Afinal, se o indivíduo branco não é racializado, se não se constitui como grupo social, as conquistas são baseadas no mérito. O poderio econômico e político, por exemplo, são causados exclusivamente por mérito individual, não por uma construção social, fundamentada nas hierarquias raciais.
Segundo Cida Bento, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP), o que garante a perpetuação da branquitude no tempo é um “pacto de cumplicidade não verbalizado entre pessoas brancas, que visa manter seus privilégios”. É o chamado pacto narcísico da branquitude, que garante a sua autopreservação, pois afasta o diferente, que ameaçaria o universal. Essas relações são construídas nas entrelinhas, no que não é visto nem falado, em ações como contratar para cargos de decisão apenas pessoas brancas, pois se parecem com os que já estão ali. Tudo isso se esconde sob um véu de mérito e nada é abertamente racializado. O aspecto decisivo seria o fato de essa pessoa em questão ser mais bem preparada que uma negra, jamais seria pela cor de sua pele. O racismo no Brasil é algo “odiado” por todos, mas praticado por muitos.
Tenho certeza de que vai aparecer no pensamento de alguém a pergunta: “Tá, mas e os brancos pobres?”. A dificuldade de reconhecer o fator racial como fundamental na nossa sociedade passa por esse argumento, também consequência dessa grande névoa que paira sob as cabeças de todos nós, não brancos e brancos. Névoa chamada branquitude. Se precisar, releia o texto!