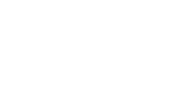Uma parceria entre o Museu Nacional (MN) e a Smithsonian Institution – entidade educativa e cultural associada a um complexo de museus e vinculada ao governo dos Estados Unidos – levou 14 alunos de pós-graduação e pesquisadores da UFRJ a Washington (DC), no primeiro semestre de 2019. A iniciativa foi parte de um esforço para a recuperação e continuidade de pesquisas vinculadas a acervos perdidos após o incêndio que atingiu o Palácio Imperial de São Cristóvão, em setembro de 2018. O ponto de partida veio do contato que professores dos Programas de Pós-Graduação em Arqueologia e Zoologia tinham com a Smithsonian. Interessada na expertise brasileira, a entidade forneceu um aporte de U$ 250 mil (equivalentes a R$ 1 milhão) para os custos do intercâmbio, que veio a contemplar os demais Programas de Pós-Graduação do Museu Nacional.
Após chamada feita aos pesquisadores do Museu, o Mestrado Profissional em Linguística e Línguas Indígenas (Profllind), por meio de sua coordenação, incentivou quatro de seus discentes a elaborarem suas propostas de trabalho na Smithsonian. “Durante um prazo muito curto, eles conseguiram reelaborar seus projetos de pesquisa, desenvolvendo itens específicos, com cronograma, indicação dos professores com quem gostariam de dialogar, tudo em inglês. Foi muito importante, já que nosso Centro de Documentação de Línguas Indígenas (Celin), que comporta uma face como biblioteca e outra como arquivo, também foi fisicamente destruído”, comentou Marília Facó Soares, professora do Setor de Linguística do Museu Nacional e coordenadora do Profllind.
Assim, Carolina Camargo de Jesus, Eronilde de Souza Fermin, Paulo de Tassio Borges da Silva e Suelen da Fonseca Antunes, supervisionados pela curadora Mary Linn, da Smithsonian, puderam ter contato com documentos, imagens e artefatos de diversas coleções, dando novo fôlego a suas investigações. “Eles foram para dialogar sobre os modos de constituição de acervo na área de conhecimento envolvida (Linguística) e na sua área de interesse específica (Línguas Indígenas), realizando ainda verificação documental pertinente às suas respectivas dissertações”, explicou Marília. Carolina, Eronilde e Paulo trabalham com a retomada da língua dos povos Potiguara, Omágua e Pataxó, respectivamente. Já Suelen busca reconstituir a memória indígena na região da Costa Verde, mais precisamente nos municípios de Nova Iguaçu e Mesquita, no estado do Rio de Janeiro, onde atua como professora.
Ao concederem entrevista ao Conexão UFRJ, eles descreveram como a experiência que tiveram foi além do seu objetivo formal. Durante um mês, a jornada de trabalho era de, no mínimo, oito horas. Ao deixarem a Smithsonian, no fim da tarde, seguiam para palestras, mostras, conferências, festivais e articulações políticas, inserindo-se em um circuito paralelo que buscava discutir as culturas e os direitos humanos no mundo. Com isso, puderam contribuir com sua área de conhecimento, defender os modos de vida e as epistemologias das 255 etnias existentes no Brasil e se aproximar do movimento ameríndio dos Estados Unidos e reforçar suas identidades.
Durante uma conversa que durou quase duas horas, em uma tarde ensolarada e amena do mês de junho, quando se reencontraram no Horto Botânico do Museu Nacional, Carolina, Eronilde, Paulo e Suelen entrelaçaram suas trajetórias pessoais e profissionais aos temas que estudam. Também teceram comentários sobre as impressões que tiveram daquela terra estrangeira, uma vez ocupando o lugar de quem observa, vive e narra a história. Aqui, reproduzimos em primeira pessoa, como relatos de viagem.

Protagonismo indígena
Sou Carolina Camargo de Jesus, da etnia Potiguara. Minha família veio trabalhar na cidade e, no Rio de Janeiro desde a infância, me recriei. Uma parte da família permaneceu na Paraíba e, por isso, mantive contato com o meu povo. Fiz graduação em História na Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante o curso, iniciei os estudos sobre os povos indígenas. Isso era por volta de 2004, 2005. A historiografia revia a história dos povos indígenas brasileiros. Participei de um ciclo de estudos sobre a temática e fui convidada a integrar um grupo de pesquisa. Assim me despertei para o tema.
Em 2007, me uni a muitos povos que vivem na cidade do Rio de Janeiro, índios que migraram de suas aldeias e vieram viver na cidade, indígenas em autoafirmação, vivendo em contexto urbano. Convivi e convivo até os dias de hoje com os povos Guajajara, Pataxó, Guarani, Tukano, Kaingang, Kariri-Xokó, Sateré-Maué, uma série de indígenas que migraram. Dali em diante, iniciamos uma luta pelos direitos indígenas, considerando um contexto permanente de violação das terras, das línguas, das tradições. Formamos um grupo de estudos para rever a nossa história e, assim, alimentamos o desejo de fazer parte do chamado protagonismo indígena.
Atualmente, sou pós-graduanda pesquisadora do Profllind. Meu trabalho é sobre a retomada da língua indígena do povo Potiguara, que vive momento de perda linguística e, por uma série de fatores, não conseguiu fazer a salvaguarda de sua língua original. Atualmente, o povo Potiguara faz uma recriação do Tupi Antigo dentro do espaço da escola. Essa prática do meu povo é que estou trabalhando na minha dissertação. A experiência adquirida como pesquisadora no Profllind me levou também ao município de Maricá, onde, via Secretaria de Educação, integro o grupo de Educação Escolar Bilíngue Português–Guarani. Trabalho com formação de professores, produção de material didático, acompanhamento pedagógico dos indígenas.
No Brasil, a luta pela educação escolar indígena é muito grande. Nos Estados Unidos, vimos que as políticas estão mais direcionadas. Em muitos estados se ensina espanhol, inglês e a língua nativa estadunidense ou dos povos do México, Arizona, Miami e Oklahoma, por exemplo. Há muita produção acadêmica sobre o que eles chamam de first nations [povos originários]. Muita coisa produzida por pesquisadores não indígenas, mas já há um movimento de pesquisadores e escritores indígenas que se engajaram na causa de documentação de suas línguas.
Na Smithsonian, aprendi a importância do inglês e da tecnologia. Eles armazenam todo o conteúdo de forma digital, demonstrando muita preocupação com a salvaguarda das pesquisas. Estou feliz pela experiência. Tivemos muito acesso à informação. Fomos correspondidos tanto na parte de documentação quanto de artefatos, estudos linguísticos, estudos de políticas. Cada um teve seu próprio computador para manusear os dados. Pudemos também, em alguns casos, fotografar os materiais coletados. Tivemos valorização e respeito, tanto em relação a nossas pesquisas quanto ao entendimento de que somos pesquisadores. Sinto-me fortalecida.

Confirmando a história de seu povo
Meu nome é Eronilde de Souza Fermin, professora e liderança indígena, da etnia Omágua. Sou liderança do meu povo, herdei o cargo de minha mãe. Vivemos no município de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, estado do Amazonas. Trabalho com a preservação do acervo, da memória e com a retomada da língua do meu povo. Apelidaram-nos de Kambeba, que significa cabeça chata, por causa de um ritual feito com nossos recém-nascidos. Esse ritual foi considerado satânico, fomos perseguidos por isso. Tivemos que passar bastante tempo no anonimato para preservar nossa identidade e isso, agora, vem à tona. No passado, fomos um povo que defendeu aquela região e, por vários conflitos, para preservar a vida, tivemos que alterar um pouco nossa cultura, nossa identidade. Após longo tempo, em 1988, com a Constituição Federal, o povo Omágua toma os artigos n° 231 e 232 como base de segurança e se revela diante da sociedade como população indígena.
Há muito tempo trabalho com a revitalização das memórias de meu povo. A língua foi o fator principal no processo de recuperação de nossa identidade. Nossos ancestrais falavam bem a língua, então, começamos por eles. Também passamos a guardar em acervos as cerâmicas ancestrais que estavam sendo destruídas na região.
Fiz graduação em Pedagogia, em Manaus, e me formei em 2009. Conheci a professora Marília em 2013, quando trabalhei com a população Tikuna. No Profllind, sigo investigando a memória, o acervo e a identidade do povo Omágua. No doutorado, pretendo seguir com o tema. Sinto-me muito feliz de ser uma indígena lá do interior do Amazonas que está hoje na cidade do Rio de Janeiro, não para morar, mas para me qualificar e voltar para ajudar meu povo.
Tenho memórias vivas no meu contexto de vida. No município de São Paulo de Olivença, estado do Amazonas, temos bastante acervo, sítio arqueológico, temos também os idosos, que são as memórias. A nossa língua está viva. Mas me faltava uma referência científica. Na Smithsonian, encontrei bastante material nos acervos. Isso mudou meu trabalho. Deparei-me com um grande acervo de pessoas que escreveram sobre nosso povo, em que mantiveram as comparações linguísticas do Omágua, do Tupi Antigo, de outra língua que estava próxima. Reuniram manuscritos sobre nosso povo e, principalmente, guardaram as imagens feitas por artistas do passado, pinturas antigas, de séculos atrás, feitas por meu povo. Entrei em um acervo de obras raras, passei por dez portas de aço. Só eu pude entrar. A Mary Linn [curadora da Smithsonian] dizia: “é para ela conhecer seu vovozinho”.xa0 Não pude fotografar, mas o que meus olhos viram já me bastou: posso desenhar.
Na graduação, no interior, quando comecei a estudar sobre meu povo, não me deparei com o que vi lá. Na Smithsonian, encontrei embasamento para falar da cerâmica, da língua, das memórias, da pintura e, principalmente, da identidade delesxa0 nas pinturas feitas pelo povo Omágua no século XV. Dizem que, naquela época, nas aldeias, nossos pajés trabalhavam daquela forma que está retratada, usavam aqueles adereços. Encontrei 273 artigos que falavam sobre o meu povo. Consegui salvar 100, mas me mandarão o restante. No Amazonas, certa vez, me falaram que a língua que eu falo não é minha, é de outro povo. Mas, quando cheguei na Smithsonian, descobri que a língua que eu falo é minha mesmo.
Durante meu percurso como liderança indígena no Alto Solimões, lutando para manter viva a nossa língua dentro das escolas, passei a ser vista pelos políticos da região como causadora de conflitos. Então, em nossa agenda, no decorrer das reuniões, dos debates, das oficinas, das apresentações dos nossos trabalhos, fomos puxando uma linha e outra. Até que fomos convidados a participar de uma reunião na Organização dos Estados Americanos (OEA). Todas as atividades que fizemos fora da Smithsonian foram propostas por pessoas que assistiam a nossas apresentações e se interessavam pelo tema. Então íamos até os lugares contar um pouco da nossa história de vida, compartilhar os sofrimentos. Porque não é fácil lutar por uma determinada causa.

As línguas não morrem
Sou Paulo de Tassio Borges da Silva, natural do sul da Bahia. Minha formação inicial foi em Pedagogia. Ainda na graduação comecei a trabalhar com a questão escolar indígena, especialmente com o povo Pataxó. Fiz mestrado e doutorado em Educação e, atualmente, trabalho como professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde temos uma Licenciatura Intercultural Indígena. Antes de terminar o doutorado, percebi que o Profllind poderia potencializar o trabalho relacionado à retomada linguística, uma demanda antiga do povo Pataxó. A partir de minha inserção no Museu, então, direcionei minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão para a retomada linguística dos povos do sul da Bahia como um todo.
Já tinha ido fazer pesquisas no México, onde trabalhei com educação escolar indígena, mas, até então, não tinha vontade de ir para os Estados Unidos. Porém, neste caso, entendi que era uma oportunidade para potencializar algumas questões linguísticas aqui no Museu, sobretudo depois do incêndio. Mas foi muito difícil chegar lá. Tivemos que “nos virar” bastante em relação a hospedagem, adaptação, alimentação e tudo mais.
A princípio, nosso trabalho foi “caçar” mesmo. Tivemos que vasculhar os arquivos virtuais da Smithsonian, das páginas dos museus que a instituição administra, tentando encontrar alguma coisa que poderia nos ajudar, no sentido de recuperar alguma coisa que perdemos no incêndio na biblioteca de Linguística, e também para nossas pesquisas. Tudo seria bem-vindo. Até mesmo aquilo que não estivesse direcionado às nossas pesquisas juntávamos em um arquivo, já que perdemos muita coisa. Alguns acervos não estavam liberados. Mas, do que foi possível, conseguimos digitalizar muitos livros e documentos.
Além dos estudos na Smithsonian, tínhamos outras agendas direcionadas. Por exemplo, na primeira semana tivemos um convite para estar no Consulado Brasileiro. Haveria uma comemoração do Dia Internacional da Língua Portuguesa: uma mostra de cinema com produções dos países lusófonos. Também participamos de atividades em Virgínia Beach, em outros museus, como o Museu do Índio Americano. Nessas trocas, percebemos que eles têm um avanço quanto ao registro das línguas indígenas, mas não têm uma educação escolar indígena diferenciada, temporal e específica como a nossa.
A revitalização das línguas indígenas começou sendo feita por não indígenas, nas universidades. Foi criado um centro de línguas indígenas e, a partir disso, a revitalização passou a ser feita pelos indígenas. Nos Estados Unidos, esses povos que estão na academia não têm mais as suas comunidades. Eles estão em processo de etnogênese, de reconhecimento étnico, e a partir daí começam a demandar das universidades os estudos com seus povos, sobretudo estudos com material escrito – não há mais falantes, não há gravações. Os estudos existem a partir de processos de afirmação étnica. A partir disso, eles elaboram os materiais que vão reunindo. Há transformação a partir do movimento indígena estadunidense. Eles estão isolados em algumas reservas, mas perderam parte delas e tentam resistir. Nos Estados Unidos, foi vendida a ideia do “indígena do cassino”, indígena da prosperidade. Refiro-me a uma alegoria para dizer que são prósperos quando inseridos na sociedade capitalista. Aqui seriam inseridos pelo agronegócio e pela mineração; lá, pelo empresariado. Foi importante conhecer essa realidade e reconhecer aproximações nas políticas de Estado.
Quando falamos em revitalização linguística, estamos nos referindo ou a uma língua que está quase se perdendo ou a uma língua que já foi extinta. No entanto, já não uso mais esse termo “extinta”. As línguas indígenas podem estar adormecidas, silenciadas, por isso podem ser reconstruídas, revitalizadas, retomadas, como os Pataxó dizem. Estar na Smithsonian foi importante porque tive contato com os teóricos dos Estados Unidos e com as experiências de revitalização linguística de outros povos, não só dos estadunidenses. Tive acesso a materiais de revitalização de línguas dos continentes africano e asiático, por exemplo. São experiências que vão colaborar muito na construção do trabalho no Profllind e também nas comunidades que estão em processo de revitalização linguística. A pesquisa mudou.

Pela memória de um território
Sou Suelen da Fonseca Antunes, natural do Rio de Janeiro, moradora da Zona Oeste. Graduei-me em Letras pela UFRJ, com licenciatura em Língua Portuguesa. Ministro aulas em Nova Iguaçu e Mesquita, pelas redes estadual e municipal. No exercício da docência, percebi que nesses lugares havia demanda pelo ensino das culturas indígenas. Os dois municípios vivem uma realidade muito parecida. Não há valorização em relação à sua história, à sua cultura, à língua e a seus descendentes. Mas há descendentes, pois é uma região próxima à Costa Verde, que ainda tem comunidades indígenas.
No Profllind, faço análise do discurso na perspectiva francesa em relação às línguas do tronco Tupi. Trabalho com textos antigos, pensando na reconstrução da história do povo da baixada fluminense. Também não estava nos meus planos ir para os Estados Unidos. Lá me deparei com outras culturas, outras línguas, outros estudos. Em relação à recomposição de acervo, foi muito enriquecedor, principalmente as visitas a bibliotecas e a museus. Pude comparar grafismos, objetos, o que eles tinham de diferente, o que eles tinham em comum. Antes, estava muito focada no Brasil e no meu território. Pude, então, ampliar os horizontes e compreender a importância do nosso trabalho – não só para o Brasil, mas para o mundo.
A região em que trabalho e que é meu território de pesquisa está entre a Zona Oeste e a Costa Verde. É uma zona urbana e periurbana, onde vivem descendentes Guarani e Pataxó Hã-Hã-Hãe. Essas pessoas sofrem discriminação e nosso trabalho comprova que elas estão ali há muitos séculos. Há ali muito material Tupi-Guarani. Com as obras de construção do BRT, foram encontrados muitos artefatos. A partir do que encontrei na Smithsonian, poderei comparar os artefatos dessa região com os de outras culturas. Tive contato também com o arcabouço teórico com o qual devo trabalhar. Agora, estudarei o material antigo que encontrei e as entrevistas que farei.