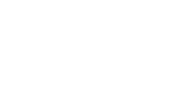Na primeira semana de setembro, logo após o incêndio que deixou o Palácio Imperial de São Cristóvão em ruínas, Andrea Ferreira da Costa, professora do Departamento de Botânica, instaurou na Quinta da Boa Vista um “comitê do espaço e do abraço”. Modo de dizer. Foi como a docente entendeu que poderia acolher seus colegas que, ao contrário dela, perderam todo ou quase todo o local e o material de trabalho, marcas de trajetórias pessoais e profissionais.
“A primeira semana foi muito estranha. As pessoas vagavam, não tinham sequer onde se sentar. E, mesmo para quem estava inteiro, havia o luto”, relembrou. Foi então que ela passou a oferecer um canto em sua sala, um momento de conversa. Comprou mesas e cadeiras de plástico para compor as varandas da Biblioteca do Museu Nacional, localizada no Horto Botânico. A seu ver, foi momento de acolher: “Sempre tivemos isso de estar todos juntos”.
Nessa mesma semana, Luiz Fernando Dias Duarte, docente do Departamento de Antropologia, sentiu a voz falhar após conceder sucessivas entrevistas. Como diretor adjunto da instituição, foi um dos primeiros a falar com jornalistas sobre o acontecido. E seguiu se pronunciando com frequência, conforme o passar dos dias. “Foi uma maneira de organizar as ideias, uma terapia”. Firme, concentrou-se na agenda da reconstrução, encampada por todo o Museu Nacional, partilhando seu tempo ̶xa0 como de costume ̶ entre as atividades acadêmicas e administrativas. “O impacto pessoal é devastador. Mas cada um tem de enfrentar com seus recursos. Essa batalha externa é uma das salvações”, ponderou.
Quinze dias após a tragédia, com as aulas já retomadas, os Programas de Pós-Graduação que existem ali fizeram um primeiro balanço de sua situação, firmando a disposição de seguir produzindo conhecimento e, também, reconhecendo a necessidade de visitar outros acervos, refazer pesquisas de campo, mudar planos de estudo.
Por ocasião de uma reunião com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), articulada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2), Antônio Carlos de Souza Lima, professor do Departamento de Antropologia e atualmente coordenador nacional da área de Antropologia e Arqueologia junto à Capes, defendeu: “A pesquisa continua, com toda a certeza. A instituição não é apenas o conjunto de coleções que foi perdido, o prédio ou os equipamentos que eram utilizados para trabalhar. A instituição são as pessoas”.

Já na última semana de outubro, Paulo Roberto Magno, biólogo e servidor técnico-administrativo do Departamento de Entomologia, trabalhava no Horto ao ar livre, apoiado a uma mesa de madeira, sob a sombra de uma árvore. Manuseando pacientemente insetos dispostos em frascos de vidro, ele estava a fazer o mesmo de anos atrás: identificava e organizava amostras para as coleções da Entomologia. Também voltaria a campo dias depois, para uma expedição em Itatiaia. “Era o maior acervo da América Latina, tinha cinco milhões de insetos. Agora, devemos reconstruí-lo”, pontuou, sobre o que foi perdido nessa área do Museu Nacional que funciona desde 1842. Executando sua tarefa enquanto tecia seus diálogos, opinou, sem se lamentar: “É preciso estar atento, a verdade acontece no presente”.
500 mil títulos bibliográficos foram preservados
O Museu Nacional é a casa de ciência mais antiga do país e uma das maiores da América Latina. Foi criado em 1818, por Dom João VI, como Museu Real. Até 1892, foi sediado no Campo de Santana, quando transferido para São Cristóvão. Em 1946, foi incorporado à Universidade do Brasil e, aos duzentos anos, está vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Antes do incêndio, a instituição abrigava mais de 20 milhões de itens das coleções científicas estudadas pelos Departamentos de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados, Geologia e Paleontologia.
Após o dia 2 de setembro, conforme levantamento feito por sua própria assessoria de imprensa, a casa conservou 500 mil títulos bibliográficos (sendo 1.560 obras raras), 330 espécies vegetais, um herbário com 550 mil plantas, 460 mil lotes de vertebrados e 150 mil lotes de invertebrados, sem contar os documentos que cada área havia digitalizado ou o que, aos poucos, as pessoas vêm trabalhando para recuperar (veja também reportagem sobre o acervo de Kurt Nimuendajú, nesta edição).
Com 89 docentes, 215 técnicos-administrativos, 500 estudantes e aproximadamente 100 terceirizados, é fácil concordar que o presente do Museu Nacional são as pessoas. Foram elas as responsáveis pelo acervo acumulado ao longo de 200 anos. Igualmente elas prepararão às próximas gerações o destino desse lugar. Cada uma lidando com os fatos à sua maneira, mas deixando transparecer algo em comum de solidariedade, dedicação, seriedade e esperança. No curso dos últimos três meses, nossa reportagem ouviu pesquisadores que construíram suas trajetórias e cresceram juntamente com a instituição. Aqui, a exemplo de Andrea, Luiz Fernando, Antônio Carlos, Paulo Roberto, entre outros e outras, relataremos um pouco da dimensão humana que mantém o espaço vivo.
“Quando aqui cheguei…”
Oito pessoas com perfis profissionais e percursos de vida distintos falaram ao Conexão UFRJ. O exercício de conhecê-las começou pelas reminiscências. Paulo Roberto, por exemplo, que sempre viveu em São Cristóvão, quando menino, tinha como brincadeira preferida caçar insetos no quintal da família. Aos 13 anos, visitou o Museu Nacional em uma excursão do colégio. Descobriu que poderia trabalhar com o que mais gostava de fazer. Estudou Biologia e, em 1985, entrou para o Departamento de Entomologia. “Aqui fiz mestrado, doutorado, viajei em muitas expedições, acompanhei pesquisadores conhecidos, aprendi a dar importância a tudo o que está nesse planeta. Quando você olha para a natureza, enxerga além”, resumiu, em postura contemplativa.

Tal qual o biólogo, Alexandre Pimenta, docente do Departamento de Invertebrados, também fez alusão à infância ao retomar sua trajetória. “Meu irmão mais velho me trazia para visitar o Parque da Quinta da Boa Vista e o Museu, onde já me chamava a atenção a exposição de animais.” Anos depois, ao ingressar no Bacharelado em Zoologia, do curso de Biologia da UFRJ, Alexandre voltou a frequentar o lugar, dessa vez, para consultar a biblioteca e ter as primeiras experiências de pesquisa no Setor de Malacologia.
Após cursar mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Zoologia ̶xa0 o qual atualmente coordena ̶, em 2005 foi aprovado em concurso. “Posso destacar este como um momento relevante para a minha carreira. Não propriamente pela conquista da vaga ou posse no cargo, mas sim pelo início do convívio profissional e pessoal que se seguiu com os professores que já trabalhavam no Setor e com os estudantes que foram meus primeiros orientandos”, recordou.
No mesmo ano em que Paulo Roberto começou a trabalhar na Entomologia, Andrea passou a frequentar o Museu Nacional. Na ocasião, ela era estagiária do Jardim Botânico e estudante de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Sob a orientação do professor Gustavo Martinelli (Uerj), participava da elaboração do Inventário de Bromélias do Rio de Janeiro. E botou cor e forma nessa lembrança: “As divisórias eram de madeira, baixas, com medida aproximada de 1,7m e vidros jateados. As estantes eram de peroba rosa, pintadas de verde, com o herbário todo arrumadinho nas latas. Era lindo”. Dez anos depois, a docente se tornou efetiva, por meio de concurso público, e, assim como Alexandre, teve a admiração convertida em orgulho. “Dezessete de agosto de 1995: nunca me esqueço do dia em que fui UFRJ definitivamente. Fiquei muito feliz, pois estava entrando para uma instituição importante, cujo herbário já era espetacular em termos de tamanho e de relevância histórica, cultural e científica.”
Também na década de 1990 chegou Luciana Barbosa, paleontóloga do Departamento de Geologia e Paleontologia (DGP). À ocasião cursando também Biologia, ela tinha interesse em estudar répteis, especialmente crocodilídeos, fato que a levou, primeiro, a pleitear vaga de estágio no Zoológico. Em 1992, enquanto aguardava sua primeira opção, recebeu proposta de iniciar a formação profissional na área de Paleontologia de Invertebrados do Museu Nacional, sob a orientação do professor Antônio Carlos Fernandes. “Não era exatamente o que eu queria, mas, ao mesmo tempo, tinha vontade de aprender coisas novas e colocar em prática o que estava aprendendo na graduação.

Acabei estabelecendo um vínculo muito forte com o professor Antônio Carlos e até hoje trabalhamos juntos”. Um ano depois, Luciana descobriu a Paleontologia de Vertebrados, que trabalhava com répteis fósseis, mudou de coleção, e nessa área fez carreira. Sob a orientação de Sérgio Alex Azevedo, fez mestrado, atuou como professora visitante, colaborou na lida com o patrimônio e na organização de exposições. Ao entrar para o doutorado, iniciou pesquisa com crocodilos. “Finalmente consegui trabalhar com o grupo que eu queria.”
De estudante a professor titular
Antônio Carlos Fernandes e Sérgio Alex Azevedo, citados por Luciana, conversaram conosco sentados lado a lado, em um banco verde de madeira localizado entre as árvores do Horto. “Vim em 1973, a convite do professor Fausto Luiz de Souza Cunha. Na ocasião, era estudante de História Natural e comecei meu estágio no setor de Paleoinvertebrados, com a orientação de Cândido Simões Ferreira”, contou Antônio Carlos, formado em 1974 e contratado pela casa em 1980 como auxiliar de ensino. Vinculado ao DGP, seguiu todas as etapas da carreira até a cadeira de professor titular. “Hoje estou aposentado, para dar chance à entrada de uma nova pessoa”, resumiu, com a humildade da experiência. “Me mantive na mesma sala até o dia do incêndio no Palácio”, destacou.
Com Sérgio Alex foi diferente. Natural do Rio Grande do Sul, até terminar o doutorado não pensava em vir para o Rio de Janeiro ̶ a não ser para passear e comprar discos de vinil. “Em 1988, fiquei sabendo por um amigo que haveria um concurso no Museu Nacional. Como tinha um irmão que morava na cidade, vim, fiz o concurso, aproveitei para visitar as lojas da Uruguaiana, mas não imaginava ficar.” Sem pressão, o colecionador de discos passou no concurso e foi chamado para trabalhar, ensaiou recusar, até que um chefe de departamento da época, Antônio Carlos Magalhães Macedo, lhe fez uma pergunta. “Por que não ficar? E eu não tinha a resposta. Então, fiquei. E fui buscando o meu espaço”, narrou. Demonstrando um temperamento inquieto e curioso, descreveu seu caminho como algo não-linear, estudando temas variados, de dinossauros à tecnologia 3D. “Sempre que um trabalho acaba, já quero buscar outro tema. Este ano trouxe o curso de Dança da UFRJ para o Museu e começamos a fazer análise de imagens do movimento.”

A primeira formação de Luiz Fernando Duarte foi o Direito, mas o contato com textos da Antropologia mudou sua trajetória. “Já tinha minha carreira na Universidade como funcionário. Comecei como tradutor no Gabinete do Reitor, onde conheci alguns professores do Museu. Me tornei secretário do Conselho de Ensino para Graduados (Cepg) e passava pelas minhas mãos todas as teses da Universidade. Ao ler os trabalhos da Antropologia, foi um grande encanto.”
Entrou para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS/MN) em 1974 e para o doutorado cinco anos depois. Teve Lygia Sigaud e Gilberto Velho como seus primeiros mestres e, em seguida, colegas de trabalho. Como docente, atuou em diversas frentes acadêmicas e administrativas, tendo sido diretor do Museu Nacional entre 1998 e 2002. Escreveu sobre uma diversidade de temas ̶ família, trabalho, juventude, religião, psicanálise ̶ e segue produzindo.
Outro Antônio Carlos aqui já apresentado, mas de Souza Lima, também buscou o Museu Nacional atraído pelo que o PPGAS oferecia. Em 1976, entrou para a graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). No segundo semestre do curso, foi apresentado a textos que discutiam a temática dos povos indígenas. Interessou-se e passou a buscar professores que pudessem orientá-lo em pesquisas correlatas. Percebeu, no entanto, que aquele não era o seu lugar. “Era outro momento da historiografia brasileira, havia um interesse maior em história econômica e regional”, justificou.
A mesma professora que lhe apresentou os textos o convidou para colaborar em sua pesquisa de doutorado, desenvolvida no PPGAS. Em 1977, assim, Souza Lima teve a primeira experiência com o que seria seu futuro: a Etnologia. Em 1980, entrou para o mestrado em Antropologia Social, dedicando-se ao estudo das políticas indigenistas, sob a orientação de João Pacheco de Oliveira. Nove anos depois, assumiu vaga de professor assistente, via seleção pública. “A renovação dos processos de formação na Antropologia brasileira foi dada pelo PPGAS/MN. Era um programa novo, em moldes absolutamente diferentes do que havia na época, com formação pautada por pesquisa, que não tirava férias no intervalo escolar. Foi isso o que me atraiu: queria ser pesquisador.” Em 2018 o PPGAS completou 50 anos, com mais de 800 mestres e doutores formados e conceito máximo (7, excelência) na avaliação da Capes.

Uma casa, muitos lugares
Mais conhecido do grande público como um dos endereços da família imperial, o Museu Nacional é um espaço científico, educativo e cultural diversificado que abarca atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e salvaguarda do patrimônio. Diferentemente de outros museus, exibe coleções ancoradas não somente em reservas técnicas, materiais comprados ou doados, mas, sobretudo, pelo que produz de conhecimento sobre o mundo. “É um entramado de funções ao estilo dos museus de História Natural que existem mundo afora, onde você encontra um cruzamento entre a leitura da natureza e de narrativas nacionais como parte da história da humanidade”, definiu Souza Lima, destacando a importância que o lugar tem como centro de pesquisa.
Nesse sentido, embora iniciada na década de 1960, a pós-graduação tem papel aglutinador, reunindo desde grandes projetos de pesquisa até a formação acadêmica de dezenas de profissionais todos os anos. “Algo notório no Brasil é que a maior parte das pesquisas são feitas no âmbito do sistema de pós-graduação. Aqui não é diferente. A pós-graduação é poderosa na identidade da instituição e terá uma força muito grande na reconstrução dos acervos que perdemos”, opinou Andrea, atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas/Botânica (PPGBot). O Museu Nacional possui 6 cursos stricto sensu (Antropologia Social, Arqueologia, Botânica, Geociências, Zoologia e Linguística e Línguas Indígenas) e 3 lato sensu (Geologia do Quaternário, Gramática Gerativa e Estudos de Cognição e Línguas Indígenas Brasileiras).
Outro aspecto mencionado por Andrea é o caráter institucional. Para a professora, na medida em que há envolvimento com tarefas do cotidiano, há também uma mudança de olhar em relação ao Museu e à universidade como um todo. “Recomendo a todos passarem pelas instâncias administrativas e de representação. É um momento em que a gente se sente pertencendo.” Ao falar sobre suas vivências, Andrea citou dois momentos que cruzaram a pesquisa, a docência e a vida institucional: o primeiro, na segunda metade da década de 1990, quando participou de um projeto coletivo na restinga de Carapebus, hoje Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; o segundo, quando assumiu pela primeira vez a coordenação do PPGBot, a partir de 2003. “É preciso participar para enxergar além.”
Espaço de divulgação científica
Face importante do Museu destacada por nossos interlocutores é sua relação direta com o público. “Para além de um centro de pesquisa, o Museu sempre foi e continuará sendo um espaço de divulgação científica com forte apelo popular, que faz parte do cotidiano dos cariocas xa0̶ xa0cujo Parque da Quinta da Boa Vista é um de seus mais importantes espaços de lazer democrático”, reforçou Alexandre. De fato, a percepção dos trabalhadores do Museu Nacional é de que há um público cativo na cidade, em sua maioria oriundo das camadas populares.

Na visão de Sergio Alex, trata-se de uma relação que, com o incêndio, corre o risco de se perder. “As pessoas do Rio de Janeiro começam o amor pelo Museu ainda crianças: elas vêm ao parque, visitam o Museu, tiram foto, guardam recordações. E há toda uma história de vida que reverbera quando elas se tornam adultas. Tanto é assim que algumas vêm trabalhar aqui. Então, você imagina… a geração de agora pode não ter esse amor. É um risco sério para o Museu, porque é uma instituição pública, pobre, com problemas”, alertou.
Após o incêndio, a divulgação científica e as atividades de extensão passaram a ser encaradas com preocupação, uma vez que as visitas escolares, entre outras atividades, foram temporariamente suspensas. Para recuperar o que pode vir a ser um tempo perdido (tempo, por exemplo, da construção de um novo prédio), a comunidade científica se moveu em dois sentidos: retomar ações possíveis, adaptar o Horto Botânico para futuras visitas e lançar uma campanha de financiamento para levar o Museu às escolas da rede pública.
A equipe do DGP, por exemplo, no mês de outubro, realizou o projeto de extensão Meninas com Ciência de forma adaptada e abriu as vagas para todas as adolescentes inscritas. “É uma alegria poder mostrar para as meninas que existe esse espaço. Ninguém está ali para criar na cabeça delas que devem ser geólogas ou paleontólogas. A ideia é que elas possam ver mais essa possibilidade. É um projeto que a gente não quer deixar morrer”, contou Luciana, para quem uma das prioridades do momento é, justamente, trabalhar para reapresentar o Museu ao público. “As coleções alimentam o conhecimento que é levado ao nosso povo, à nossa Nação. Precisamos ter isso como foco principal daqui para a frente, é isso que quero fazer até me aposentar, é ter o Museu novamente para o nosso povo”, defendeu, emocionada.
Tantos anos de convivência e dedicação entre as pessoas que integram o Museu dão sentido a uma casa que ultrapassa os aspectos já mencionados: é o que revela a história de Luciana e Sérgio Alex. “Além da ligação profissional, a instituição se tornou a minha casa. Porque aqui conheci meu marido, e em um dos trabalhos de campo gerei minha filha. Aqui a gente acaba criando laços não só de trabalho, mas laços de amor pela instituição em si, como patrimônio histórico, como patrimônio científico, e laços de amizade, de família, de tudo”, relatou Luciana. “O Museu tem essa coisa que prende as pessoas. Muita gente entrou aqui e não saiu mais”, brincou Sérgio Alex. Além de partilharem a vida pessoal e dividirem as tarefas no DGP, agora lidam juntos com a reconstrução da casa.
* Reportagem produzida com a colaboração de Eduarda Alves,xa0estudante da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ e extensionista da Coordcom.
Tecnologia para o passado e o futuro. Leia mais
Um dos primeiros computadores do Museu Nacional foi adquirido pelo Setor de Paleoinvertebrados, no início da década de 1990, quando o sistema operacional era o DOS e a impressora, matricial. A iniciativa foi de Antônio Carlos Fernandes, que percebeu que os registros da coleção à qual era responsável, de tão antigos, estavam se perdendo no papel. Nessa época, Luciana e outros estagiários, juntamente com o professor, começaram a fazer todo o levantamento da coleção, recuperando livros de tombo feitos desde a década de 1940. Foi assim que surgiu a proximidade de Fernandes com a Seção de Memória e Arquivo (Semear) e uma frente de atuação relacionada à história das coleções, que também se estendeu ao Setor de Paleovertebrados. “O que mais valorizo dentro da minha carreira é o carinho e a preocupação, primeiro, com as coleções, segundo, com a sua história. Com isso, nos últimos anos, me dediquei muito mais a essa parte de tentar reconstituir a trajetória delas, de conhecer como chegaram esses exemplares que estavam no acervo. Isso foi algo muito importante para mim”, destacou o docente. Luciana seguiu os passos do mestre e hoje, em razão do incêndio do Palácio Imperial, reorienta sua abordagem, bem como a de seus alunos. “Daqui para a frente, teremos de estudar o próprio incêndio e seus resultados”, analisou.
Também partiu do DGP o uso da tecnologia tridimensional para digitalizar e imprimir peças do acervo. Foi em 2008, quando se estabeleceu parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e foram instaladas as primeiras máquinas do gênero em uma universidade brasileira. Foi criado o Laboratório de Processamento de Imagem Digital (Lapid), com computadores de última geração, escâneres tridimensionais e equipamentos de fotografia. Embora o fogo tenha lambido todo esse aparato, os registros feitos no século XXI não se perderam por completo. Ficou, também, o reconhecimento de que se trata de uma aliada no processo de recuperação do acervo. “Bem recentemente, quando se começou a resgatar o material atingido pelo incêndio, vimos que, em muitos casos, a perda não foi total. E a tecnologia 3D pode contribuir muito na recuperação do material, pois em seu arquivo estará a base para a reconstrução. Inclusive, se for preciso, para completar esse material, é possível imprimir peças que tenham sido perdidas”, afirmou Sérgio Alex, para quem o tridimensional “não é mais futuro, e sim presente”.