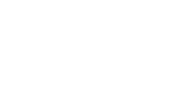Insônia. Taquicardia. Ansiedade. Pânico. Depressão. Os sintomas são variados e têm acometido cada vez mais pessoas na universidade. A crise política e econômica atua como fator de agravamento conjuntural. Mas a estrutura hierárquica, a naturalização das práticas de assédio moral e outras formas de opressão contribuem para a constituição de um ambiente adoecedor. A democratização do acesso a um perfil socioeconômico e ético-racial do corpo discente diverso daquele a que esta instituição tradicionalmente elitista estava habituada a lidar também trouxe à tona a importância deste debate. Se, por um lado, os estudantes se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade, por outro, servidores docentes e técnico-administrativos também estão sujeitos ao adoecimento mental. A partir da realização de debates recentes dos estudantes da UFRJ, o Setor de Comunicação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (SeCom/CFCH) conversou com alunos, professores, técnicos, dirigentes e pesquisadores sobre o tema para traçar um breve diagnóstico, mapear os casos e informar sobre as propostas que estão em discussão na universidade no sentido de acolher, prevenir e tratar esses casos, que não são isolados. Ao contrário, são mais frequentes e estão mais próximos do que muitas vezes imaginamos.
O estudante de doutorado Jason Altom tinha de 27 anos quando, no dia 15 de agosto de 1998, ingeriu cianureto no laboratório do Departamento de Química Harvard. Em sua carta de despedida, Altom mencionou “supervisores de pesquisa abusivos” como uma das razões que o levaram a dar cabo da própria vida. “Os professores têm muito poder sobre a vida dos alunos. Se houvesse um comitê de estudantes, alguma forma de diálogo, as coisas poderiam ser diferentes”, escreveu. Em um período de 18 anos, Altom foi o oitavo estudante a cometer suicídio naquela universidade, o quarto naquele departamento e o terceiro envolvendo orientandos do professor Elias James Corey, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 1998. “Fiz o melhor para orientar Jason, como um guia que ajuda alguém numa escalada em uma montanha. Minha consciência está tranquila. Tudo que Jason fez foi resultado da nossa parceria. Nunca tivemos o menor desacordo”, defendeu-se Corey. Naquele mesmo ano, naquela mesma universidade, dois outros estudantes também cometeram suicídio. Ambos deixaram bilhetes em que denunciavam a forte pressão que sofriam, a falta de diálogo com os professores, a grande carga de trabalho e a falta de tempo para o lazer. Como forma de prevenir outros casos semelhantes, a Universidade de Harvard implementou uma política de acompanhamento do corpo discente, como a elaboração de formulários para aferir a natureza e o grau de ansiedade dos estudantes, a destinação de recursos específicos para o desenvolvimento de um programa de ajuda psicológica e a criação de comitês de apoio.
No Brasil de hoje, em uma realidade de desinvestimento das universidades públicas, após mais de uma década em que o perfil dos estudantes de graduação e pós-graduação se alterou, em maior ou em menor grau, devido às políticas afirmativas, o cenário de adoecimento mental pode não ser menos preocupante. O debate sobre este tema vem ganhando corpo nas universidades brasileiras com o suicídio de um estudante de doutorado do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ocorrido em agosto último. As últimas palavras escritas no quadro da sala de aula foram “I´m just done” (“para mim chega”, em tradução livre).
Estudantes organizam debate
Na UFRJ, uma série de debates foi organizada pelo Centro Acadêmico Franco Seminério (Cafs), do Instituto de Psicologia (IP), durante a Semana de Integração Acadêmica (Siac). Caíque Azael, estudante de Psicologia, integrante do Cafs e organizador do evento, apresentou o trabalho “Corpos em um mundo em crise: a experiência de ser no contemporâneo”, sobre a relação entre a conjuntura política no Brasil e os processos de subjetivação na atualidade. “Se as relações sociais estão fragilizadas, se a organização social vive um período de instabilidade, de rupturas, de violências, os corpos produzidos e reprodutores dessa realidade vão se formar com isso, gerando ansiedades e demais transtornos do adoecimento”, aponta Azael, com base no relatório “Depressão e outros transtornos mentais comuns”, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta um aumento de 20% dos casos de depressão e de 15% dos de ansiedade em todo o mundo, entre 2005 e 2015.

O trabalho do estudante também analisa o aumento do número de suicídios entre jovens no Brasil. Entre 1980 e 2014, o número de pessoas entre 15 e 29 que tiraram a própria vida cresceu 27%, de acordo com dados oficiais do Mapa da Violência, publicado a partir de dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. Nesse mesmo período, o aumento de casos em toda a população brasileira foi de 60%. Em números absolutos, somente em 2014, foram registrados 2.898 suicídios cometidos por pessoas entre 15 e 29 anos no Brasil. Se a incidência de casos de depressão, em todo o mundo, é maior entre mulheres e pessoas de meia idade, as taxas de suicídio são mais comuns entre homens, entre 15 e 30 anos.
Como parte da sociedade brasileira, a Universidade não está imune a esses casos. “As universidades públicas passam pelos piores momentos de sua história, com uma asfixia orçamentária cruel (…); as agências de fomento às pesquisas têm sofrido severos cortes orçamentários, que se materializam no encerramento de diversas pesquisas importantes, no corte das bolsas aos graduandos e pós-graduandos – que muitas vezes sobreviviam com os valores dessas bolsas”, analisa Azael. Em julho deste ano, um estudante de graduação do curso de Medicina do campus Macaé tirou a própria vida, às vésperas de uma prova do final do primeiro semestre. O aluno, muito bem avaliado academicamente pelos professores, já havia demonstrado sinais de adoecimento e procurado atendimento psiquiátrico. Rita Louzada, psicóloga, professora do Ipub-UFRJ, conselheira do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e integrante do Programa Organização do Trabalho e Saúde Mental (Protsam), lembra que o curso de Medicina, historicamente, é repleto de casos semelhantes. “Os alunos são muito jovens, lidam com situações muito difíceis e muitas vezes não têm suporte para isso. É preciso criar sistemas de acompanhamento desses estudantes, como, por exemplo, na figura dos tutores e preceptores, para estar mais próximos deles”, analisa a psicóloga.
Aproximação, acolhimento e esclarecimento

Mas seria possível prevenir situações semelhantes? De que forma identificar o sofrimento de uma pessoa em processo de adoecimento mental? Rita aponta que, em casos de adoecimento mental, é preciso trabalhar na perspectiva da multiterritorialidade. “Se alguém se queixa de um sofrimento, é preciso, primeiro, fazer a acolhida, e depois, o diagnóstico da situação. Se for um caso com um estudante, é preciso averiguar se é uma questão relacionada à bolsa, um problema de relacionamento com o professor etc. A partir daí você pode acompanhar o aluno, interferir naquele contexto, ou propor uma discussão sobre aquela realidade, se for o caso. Nós não estamos acostumados, mas precisamos passar a pensar o nosso ambiente de trabalho e de estudo na universidade”, explica.
Ângela Santos, psicóloga e diretora adjunta da Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) do Instituto de Psicologia (IP), acompanhou os desdobramentos do caso e sugere o maior convívio entre as pessoas na universidade como forma de acolhimento. “Precisamos estar mais junto das pessoas. Às vezes você está do meu lado e eu não sei que você está sofrendo. Por isso, a universidade precisa proporcionar mais encontros de lazer, conversas, oficinas entre as pessoas. Essas também são formas de acolher o colega que muitas vezes pode estar em processo de adoecimento. Após esse episódio, a partir de reuniões articuladas com a Reitoria, sugerimos a organização dessas iniciativas. Neste sentido, o CCS (Centro de Ciências da Saúde) e outros centros têm realizado atividades de terapias complementares, como ioga, entre outras. O objetivo é reunir, agregar, engajar não apenas os estudantes, mas a comunidade universitária como um todo”, propõe a diretora da DPA.
Já para Elídio Marques, ex-superintendente adjunto da Superintendência Geral de Políticas Estudantis (Superest), a estratégia deve ser jogar luz sobre o tema. “O suicídio é uma questão de saúde pública a ser enfrentada. Tivemos a campanha ‘Setembro Amarelo’, para prevenir casos semelhantes. A Disae (Divisão de Saúde do Estudante) realizou rodas de conversa e outras atividades, para discutir, expor essa situação. É importante debater esse tema de maneira aberta, tirar do campo do tabu e trazer para o campo do enfrentamento como uma questão de saúde pública”, esclarece.
O que dizem as estudantes?
Rosa*, aluna de um curso de graduação da universidade, tem um histórico de adoecimento mental na família. A mãe foi internada em uma instituição psiquiátrica e ela teve dificuldades para dar continuidade aos estudos. “Eu precisei abandonar uma disciplina por causa disso. Me dirigi à Coaa (Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico) da minha unidade para relatar o que estava acontecendo, mas a responsável pelo atendimento não permitiu o trancamento. Na época, o meu CR (Coeficiente de Rendimento) era acima de 9. Eu tinha muita dificuldade em falar sobre esse assunto e não encontrei o acolhimento que esperava”, recorda. A exemplo da mãe, Rosa também já precisou tomar remédios indicados por um psiquiatra. “Esse problema me levou a desenvolver quadros de ansiedade, compulsão e depressão. E os docentes não estão preparados para lidar com essas situações. Já participei de reuniões com professores em que eles afirmaram que não aceitariam atestados por diagnóstico de depressão, pois isso não é doença, é ‘frescura’, diziam. Essa professora que me negou o trancamento disse para eu usar a universidade como terapia. Só que a universidade adoece também”, relata a estudante.

Celia*, aluna de outro curso de graduação, é cotista e ex-candidata à Bolsa de Acesso e Permanência (BAP). Devido à grande quantidade de candidatos, contudo, não obteve acesso a este benefício. E agora, às vésperas da formatura, não pode mais concorrer. “Durante quase todo o período da minha graduação, vivi a insegurança da permanência na universidade. Apesar de estar dentro dos critérios estabelecidos, a própria Superest diz que apenas cerca de 15% dos estudantes que pleiteiam a bolsa conseguem obtê-la. Precisei buscar outras formas de me manter aqui, como a bolsa de Iniciação Científica. Muitas vezes tive que faltar às aulas e provas por não ter dinheiro para o transporte. Então, precisei expor a minha vida pessoal para os professores, o que foi muito difícil para mim”, revela. Celia fala sobre a forma como, em grande parte das vezes, os casos são tratados de maneira isolada, e não como parte de um problema fundante da universidade pública no Brasil. “Uma questão que não é pessoal, que é estrutural, que todos deveriam discutir, pois afeta a nossa experiência na universidade, acaba se tornando uma pauta solitária. Só quem passa por isso precisa falar para as demais pessoas que a gente existe, que a gente está aqui e que é muito difícil sobreviver neste lugar sem receber um mínimo de assistência, não só financeira, mas também pedagógica, psicológica, entre outras”, analisa.
A estudante conta que já precisou abandonar estágios por conta de situações de sofrimento e fala sobre as condições exigidas para acessar o tratamento necessário a estudantes em processo de adoecimento mental na UFRJ. “A Disae (Divisão de Saúde do Estudante) não costuma ser muito eficiente paraxa0 resolver os nossos problemas, devido à enorme burocracia. Mesmo os estudantes que recebem a BAP, e que por isso teriam direito a benefícios na DAE (Divisão de Apoio ao Estudante), desistem pelo mesmo motivo. Então, nós ficamos dependentes da solidariedade uns dos outros. Foi com muitos custos à minha saúde mental que consegui chegar até aqui, no último período”, comenta. “A universidade precisa se reformular completamente. Precisa deixar de ter essa estrutura elitista e conteudista, que pensa a produção acadêmica de forma muito descolada da realidade, que não faz uma análise de implicação do seu lugar no sofrimento do outro. Precisamos mudar a forma como a universidade enxerga o que é a produção, o que é estar aqui, o que é o conhecimento, pensar com um olhar mais humanizado, passar a considerar outras experiências, outras óticas possíveis de se pensar o humano. A universidade precisa admitir que estamos em outros tempos, que nós estamos aqui, que não dá mais para nos invisibilizar. Precisa tirar a questão do adoecimento mental de um lugar de ocultamento, falar sobre as questões que surgem com a abertura da universidade e tentar se aproximar mais do corpo discente, acabar com o distanciamento tradicionalmente existente na universidade”, afirma.
Recorte de classe, de cor e de gênero
Angela* foi a primeira pessoa da família a entrar no ensino superior. Assim como a mãe, trabalhou como empregada doméstica antes de ser aprovada na universidade. “Só o fato de ser negra, oriunda da Baixada Fluminense já é um peso para quem entra neste campus, e tem que tirar notas altas para permanecer aqui”, relata. Após a aprovação no concurso de acesso, Angela foi morar na residência universitária. Por este motivo, precisou se separar da filha, então com apenas dois anos de idade. Ao mesmo tempo em que estudava, precisava trabalhar como atendente em um supermercado. “Isso era muito difícil para mim. Eu não conseguia dormir e muitas vezes não tinha dinheiro para ir para casa. Para piorar, o pai da minha filha morreu no ano seguinte à minha mudança para o alojamento. Meu CR despencou de 7 para 3,5, o que foi desesperador, porque eu precisava mantê-lo alto para não perder a Bolsa Moradia. Nesse mesmo período também, sofri um acidente de trabalho e o patrão não quis me indenizar. Eu chorava muito e cheguei a pensar em me atirar pela janela. A saída que encontrei foi conversar com os colegas, interagir com eles, e intensificar a minha militância na universidade”, recorda.

O acúmulo de experiências como ativista e o próprio instinto de sobrevivência fizeram com que a estudante se integrasse a grupos e coletivos na universidade. No entanto, se por um lado, esse engajamento fez com que se destacasse em alguns espaços, por outro, também provocou problemas. “Certa vez, um morador, com histórico de agressões contra mulheres, ameaçou colocar fogo na ala masculina do alojamento. Por ser vista como uma liderança naquele local, fui chamada para contê-lo. Assim que ele me viu, atacou o meu pescoço e começou a me enforcar. Se não fossem as outras pessoas terem apartado, eu não estaria aqui contando essa história agora”, lembra. Em 2013, Angela entrou na luta pelo auxílio-moradia. Após as desgastantes sessões no Conselho Universitário, que lhe renderam inúmeros conflitos, a estudante sofreu um desmaio provocado por estresse. “Pela segunda vez, pensei que fosse morrer e deixar a minha filha sozinha”, recorda. Hoje, Angela conseguiu retomar a convivência com a filha, depois de anos de luta e de sofrimento. “Tivemos que aceitar a proposta de R$ 1.200, que inicialmente o nosso movimento havia rejeitado. Mas, se fosse de outra maneira, estaria sem a minha filha até hoje. Felizmente, isso não aconteceu e eu não me arrependo”, conta a estudante.
Angela observa que o adoecimento mental na universidade acomete a todos. Entretanto, segundo ela, os recortes de classe, gênero e étnico-racial são determinantes para o agravamento de alguns casos. “O atendimento que é realizado hoje na universidade, tanto na DPA, como no Ipub, ou na rede pública, não dão conta da demanda de pessoas em situação de sofrimento. No entanto, algumas pessoas têm condições de buscar um atendimento privado fora daqui. E aquelas que não têm, fazem o quê?”, indaga. “Então, quando nós falamos sobre esses privilégios, algumas pessoas nos olham de maneira enviesada. Mas enquanto elas se incomodam por serem chamadas de conservadoras, pelo fato de não aceitarem a adesão às políticas afirmativas, os ‘meus’ (trabalhadores/as negros/as e seus filhos/as) estão morrendo, tanto simbólica, quanto de fato, nas ruas e favelas desta cidade. Por esse motivo a permanência na universidade é parte de um processo adoecedor e violento, mas que, muitas vezes, nós naturalizamos”, completa.
O que dizem os dirigentes?
Lilia Guimarães Pougy, decana do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), acredita que as ações de assistência estudantil na UFRJ “atuam de forma reativa” e defende a criação de uma política de assistência estudantil para garantir não apenas o acesso, como também a permanência do estudante na UFRJ. “Isso é um direito do estudante. Mas todo direito corresponde a um dever. Então, é preciso que todos os estudantes tenham orientação e acompanhamento acadêmico de modo a potencializar a trajetória dele aqui dentro. E isso só será possível através de projetos acadêmicos e recursos públicos. E temos que ter a consciência de que, por exemplo, a alimentação é fundamental para um projeto acadêmico”, afirma a decana.

Para potencializar esses projetos, Lilia observa como fundamental a atuação das Coaas e dos professores. “São as Coaas que vão estabelecer o diálogo entre a universidade e os estudantes. Além disso, os professores orientadores também têm que atuar. É preciso escutar o aluno, entender por que há tantas reprovações em determinadas disciplinas. Os professores precisam sair dos seus lugares confortáveis para pensar pedagogicamente como aperfeiçoar a comunicação dos nossos conteúdos. E isso não significa, de modo nenhum, um pacto de mediocridade”, completa a decana.
Lúcia Rabello de Castro, diretora do Instituto de Psicologia (IP), observa o estudante como o ator mais vulnerável em um momento de crise conjuntural. “O perfil dos estudantes mudou muito nos últimos dez, 15 anos. Estamos ainda tendo dificuldade para lidar com ele. Há também uma questão intergeracional, no sentido de compreender as perspectivas de vida desse alunado. Então, todos precisamos nos entender melhor”, analisa. Sobre o papel do IP-UFRJ, Lúcia comenta: “Nós estamos sendo convocados para dar suporte a essas questões. Mas somos uma unidade de formação. O nosso papel talvez seja chamar para o debate e devolver para a discussão”, afirma, lembrando ainda o trabalho que é desenvolvido pela DPA para a comunidade universitária e para o público amplo.
Andréa Teixeira, diretora da Escola de Serviço Social, acredita que a nossa subjetividade é afetada por aspectos estruturais – as recorrentes crises do modo de produção capitalista – e conjunturais – como a violência urbana. “Ser estudante universitário no Brasil é algo para poucos. Apenas 20% da população consegue entrar na universidade. Só que quando você cola grau, no dia seguinte você pode estar desempregado. E o que nós temos observado é que grande parte das pessoas em situação de adoecimento está passando por este momento. Isso muda a qualidade de vida delas e fica cada vez mais difícil sobreviver na sociedade capitalista, na qual somos cada vez mais descartáveis”, analisa a professora, que aponta a necessidade de enxergar esta discussão a partir de diferentes perspectivas. “A saúde mental não pode ser analisada apenas por este aspecto (da saúde). Ela, isoladamente, não vai resolver a questão do mundo do trabalho e da falta dele, de todos os direitos trabalhistas que estão sendo retirados, e a insegurança que isso gera para o conjunto da população do nosso país”, pontua.
Amaury Fernandes, diretor da Escola de Comunicação (ECO), observa que os estudantes oriundos de outros estados, acabam se tornando mais vulneráveis ao processo de adoecimento mental. Segundo ele, ao observar uma situação de sofrimento, a Escola busca um processo gradual de adaptação desse jovem a uma nova realidade. “O que eu tenho percebido é que, nos últimos 5 ou 6 anos, tivemos um agravamento do quadro geral. E uma das estratégias que nós temos adotado é a mobilidade acadêmica: quando percebemos que um aluno, por exemplo, de Tocantins, apresenta alguma dificuldade, sugerimos um ou dois semestres de mobilidade na federal daquele estado para que ele possa estar mais tempo junto à família. Isso costuma funcionar bem”, relata, acrescentando que, se persistirem os sintomas, a direção costuma encaminhar o estudante para atendimento na DPA, no Ipub, ou nas instâncias cabíveis da Superest.
O diretor relata ainda outra estratégia utilizada para que o aluno se sinta acolhido no novo ambiente. “Nós temos tido um número crescente de depressão e de síndrome do pânico. Nesses casos, se não surtir efeito o encaminhamento pelos canais institucionais da universidade e se, além disso, ele não tiver condições de acompanhar as aulas, nossa proposta é convidar um familiar, amigo ou namorado/a para estar junto dele. Isso é feito com a maior naturalidade possível, sem expor ou criar um constrangimento no estudante. Por este motivo, sugerimos que esse acompanhante seja uma pessoa da mesma faixa etária. Essas são as alternativas que nós temos tentado para lidar com uma situação que está num grau de gravidade que eu, em todos os anos que estou na universidade, nunca vi”, comenta Fernandes.

Estudantes na centralidade
Elídio Marques, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos (Nepp-DH) e do curso de Relações Internacionais, atuou como superintendente adjunto da Superest até setembro de 2017. “Me parece fundamental não abordar essa questão a partir de uma perspectiva de manifestação de sintomas de adoecimento mental que a universidade tenha a responsabilidade de tratar. Trata-se de discutir quais são as condições de políticas culturais, esportivas e acadêmicas que permitam tornar o ambiente na universidade menos hostil. Esse é o nosso grande desafio”, afirma o docente. Apesar de não fazer mais parte da Superest, Marques comenta o que ele observou da relação da UFRJ com o seu corpo discente. “Falta ainda que esse tipo de discussão ganhe espaço na universidade com a centralidade que tem que ter. Eu tenho a impressão de que toda discussão sobre políticas estudantis é tratada de forma marginal na universidade. “Há alguns estudantes que têm uma demanda’, como se fossem casos isolados que alguém precisa ser deslocado lá para resolver. Não é visto como uma questão para todos nós”, afirma.
Para ele, isso se dá pela dificuldade de desconstruir a estrutura hierárquica da universidade. “Há uma inércia e é mais cômodo para muita gente pensar que elas podem levar as suas aulas, suas pesquisas, o seu trabalho administrativo e imaginar que existe uma esfera à parte denominada ‘problemas de estudantes’. Ora, a universidade inteira é uma entidade relativa aos estudantes. Eles são a coisa mais importante, o objeto central deste trabalho aqui. Quando a gente fala que o estudante está em condição de vulnerabilidade, a gente precisa saber que a vulnerabilidade é da universidade que não está em condições de receber aquele estudante que ela precisa receber e manter dentro dela. Então a gente precisa inverter essa lógica”, aponta Marques, para quem a reflexão quanto ao papel dos estudantes na universidade é parte fundamental no debate sobre a construção de um projeto de universidade. “Precisamos discutir se a universidade vai fazer sentido enquanto instituição ou se vamos voltar ao modelo elitista, de uma instituição voltada simplesmente para atender algumas necessidades do mercado e de setores da elite brasileira”, questiona o ex-superintendente adjunto da Superest.
Tempo de mudanças
Assim como a estudante Angela, Marques também acredita que determinados perfis de estudantes estão mais vulneráveis ao sofrimento. “A universidade pode ser hostil para segmentos da sociedade que estão aqui presentes, já que ela foi desenhada com um caráter muito mais elitista. Então, ela se apresenta dessa maneira, sobretudo para os estudantes que têm mais vulnerabilidades acumuladas no sentido socioeconômico, ou por outros recortes de opressões. É óbvio que se a gente tem uma sociedade machista, racista e homofóbica, isso vai se refletir de alguma maneira dentro da universidade. Mas é importante que ela tenha políticas sobre isso também”, afirma. Para o especialista em Direitos Humanos, há uma resistência por parte dos docentes em se adaptar à nova realidade do corpo discente da universidade. “Muitos dos meus colegas professores não estão preparados para lidar com estudantes que têm mais problemas familiares, sociais, e que vão ser mais atingidos por questões de violência na cidade, de desemprego na família. Há muitos professores que ainda são muito pouco sensíveis. E essa falta de acolhimento, muitas vezes, é muito séria”, analisa.
O professor, no entanto, observa que já existem mudanças ocorrendo, tanto no que se refere ao debate sobre o tema, como no entendimento sobre o perfil atual do corpo discente. “Eu acho que o estigma (sobre a questão da saúde mental) já foi maior. Hoje, a demanda dos estudantes ganhou corpo e isso demonstra como esse tema já não é mais tão estranho assim. Isso pode ser o início da discussão sobre a construção de uma política de saúde mental na universidade. Eu não me lembro de no meu tempo de estudante haver essa demanda. E a atual geração apresenta esse tema para o debate”, aponta Marques, otimista. “De alguns anos para cá, no curso de Relações Internacionais, houve uma demanda estudantil pelo estudo de autoras e autores negros. Os professores, então, tiveram que se adaptar a essa nova demanda, que partiu do corpo discente. Eu vejo isso como algo muito positivo e demonstra como a organização e a articulação dos estudantes pode resultar em alguma forma de mudança da estrutura elitista e hierárquica de que é feita esta universidade”, completa.
Iamara Peccin, integrante do Diretório Central do Estudantes (DCE) Mário Prata e do Cafs/IP, concorda com Marques quanto à dificuldade da universidade em lidar com estudantes em condição de maior vulnerabilidade e aponta áreas que deveriam receber mais atenção por parte da administração. “Não temos creche para os filhos das mulheres que trabalham ou estudam aqui. Não tem política pensada para a população LGBT, por exemplo. Então há uma série de coisas que precisamos avançar e que impactam na questão da saúde mental”, sinaliza.
Iamara também menciona as recorrentes práticas de assédio moral como fator de agravamento do adoecimento mental. “Ainda temos que lidar com muitos professores que são machistas e racistas em sala de aula. Algumas vezes, as unidades são coniventes ou omissas com esse tipo de comportamento do seu corpo docente”, alerta. Nesse sentido, a representante do DCE e do Cafs-IP sugere uma forma de abordagem diferente da tradicional para lidar com a questão da saúde mental. “Temos que debater o modelo de Psicologia que estamos reproduzindo. A nossa luta é por uma Psicologia coletiva e menos individual, dentro de um consultório. E, nesse sentido, que ela pense de fato os problemas de toda a universidade”, propõe a estudante de Psicologia.
* Os nomes foram alterados
Jornalista do setor de Comunicação do CFCH